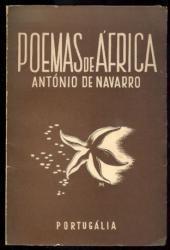Dos vários termos analisados por Jorge de Sena em Estudos sobre o vocabulário de Os Lusíadas, “O demónio” é certamente um dos mais interessantes. Isso porque a escolha não apenas aponta para uma das obsessões senianas, a figura do diabo, como também é uma demonstração exemplar do uso da aritmosofia para a leitura da epopeia. Aqui vemos um olhar cuidadoso para as ocorrências do nome demoníaco e seus sinônimos e um trabalho minucioso de investigação das suas posições no texto e as possíveis relações entre si e com outros vocábulos, como “inferno”.
Demónio, Demo, o vaso de nequícia como também é chamado na epopeia, são nomes que só fazem a sua entrada no Canto VII. O adjectivo diabólico ocorre nos Cantos VII e VIII, do último dos quais Demo e o vaso são exclusivos. A entrada faz-se aliás com Demónio, naquele Canto, e este nome reaparece no Canto X duas vezes, uma das quais (a última de todas as ocorrênciasm em X, 148) retira ao dito cujo toda a qualidade específica, visto que se refere aos demónios infernais, negros e ardentes (curiosamente o único passo camoniano em que temos uma ideia de como diabos parecerão – “negros e ardentes”), que os portugueses serão, se D. Sebastião os “olhar” e eles souberem “que são de vós olhados”.
As ocorrências demoníacas ou diabólicas (o nome diabo não ocorre) estão concentradas, assim, desde VII, 47 a VIII, 83, com uma ocorrência isolada em X, 108. Se olharmos a lista das ocorrências “infernais”, verificaremos que o cuidado de Camões é tal em separar os Infernos e o Demónio, que este só entra depois que a palavra inferno deixa de ocorrer (a última vez, em VI, 80). Mais. Se notarmos que, das 16 estrofes com referências “infernais”, 13 estão antes daquela entrada do Demónio, que apenas uma das outras (VIII, 11), e de mero efeito retórico (é a alusão à morte de D. Afonso Henriques, com o que tenha de interessante, que apontámos), se encontra naquele espaço diabólico (VII, 47 – VIII, 83), e que as restantes duas precedem a última e isolada referência ao Demónio, veremos que o poeta não se poupou a estruturais atenções, para que a separação fosse efectiva.
Aquele espaço diabólico todo ele se situa, quanto à narrativa, durante a estadia da Índia (mas já sabemos de sobra como tudo tem em Os Lusíadas níveis diversos de sentido e de funcionalidade estrutural [A]) – e, como seria de esperar, não é um espaço arbitrário no número de estâncias. Com efeito, sendo 712 e 835 os números de ordem daquelas duas estrofes extremas que o definem, a diferença destes dois valores é 123, o que compensa divinamente a presença do perigoso indivíduo [1]. Aliás, o número 8 do Canto em que ele mais se concentra é o místico para Jehovah-Adonai. De resto, Camões teve também o cuidado de não usar diabólico senão 3 vezes (uma das quais também não “demoníaca”), e demo e vaso de nequícia, uma vez cada – num total de oito ocorrências, que se reduzem realmente a seis. Repare-se como ele aumenta uma unidade tira uma unidade a 7, para que o Diabo o não tenha, e como lhe dá, em dois vocábulos, o número 3 que lhe tira [2]. Por outro lado, importa observar sobre a organização aritmosófica dessas seis estrofes, cujas ocorrências são simétricas:
VII, 47 – 712 – Demónio
VIII, 45 – 797 – diabólico
VIII, 46 – 798 – Demo
VIII, 65 – 817 – vaso de nequícia
VIII, 83 – 835 – diabólico
X, 108 – 1054 – Demónio
De facto, se não considerarmos as duas ocorrências (de “diabólico” e de “demónio”) que não fazem parte semanticamente do grupo senão por analogia, as seis ocorrências são perfeitamente simétricas em relação a um núcleo central em que o Demónio é Demo e vaso de nequícia. Repare-se, mais, como este núcleo central tem o par de estâncias distanciadas de 19, como o par diabólico que o enquadra tem as duas estrofes distanciadas do dobro, 38, e como o espaço total, entre 1054 e 715, sendo de 342 estâncias, é 2 X 19 X 9 ou 38 X 9, ou 19 X 18.
Considerando-se estas 6 estrofes, é evidente a intenção de concentrar todas as referências realmente no Canto VIII, com um enquadramento de VII e X, do mesmo passo que entre a primeira e a penúltima se define o espaço diabólico de 123, do qual a última ocorrência está separada por 219 estâncias, ou seja 3 X 73, ou três vezes o dobro de 38 diminuído de 3 [3].
Vejamos agora a que se referem aquelas seis ocorrências.
VII, 47
“Ali estão das deidades as figuras
Esculpidas em pau, e em pedra fria,
Vários de gestos, vários de pinturas,
A segundo o Demónio lhe fingia”
São as divindades bramânicas que os portugueses, os cristãos, “a ver Deus usados/ Em forma humana”, se espantam de descobrir pela primeira vez (e que, sob outros aspectos, já comentámos). Repare-se no subtil emprego do verbo fingir, não para “fingimento” do Demónio, mas para inspirações estéticas extravagantes (mas não mais que muitos monstros mitológicos que Camões se compraz em mencionar). Pelo que se creria que toda a figuração “divina” que não seja estritamente antropomórfica é “demoníaca”, porque implica o monstruoso, e o monstruoso, por definição platónica, não poder ser senão equivalente ao Mal (já que o Belo ao Bem o é) – ou àquilo que, numa visão dual da divindade, signifique o lado “mau” dela, irrepresentável por ominoso e nefando. As esculturas são, logo no verso seguinte ao último acima citado, classificadas de abomináveis (e Camões não se esquece de as comparar à Quimera mitológica do paganismo greco-latino). O passo acima está todo construído sobre concordâncias sintácticas psicológicas e não “normais”, que importa comentar. Quer as figuras, que as deidades, são vocábulos femininos. No entanto, a “variedade” que se lhes refere está no plural masculino: vários… vários. E a que ou quem se refere o lhe no singular que o Demónio fingia? É tudo isto descuidos tipográficos que levianamente se devam considerar segundo as esperadas ou supostas concordâncias? Assim agir é o mais perigoso dos métodos – porque é destruir antes de compreender. Por um lado, se as figuras estão esculpidas em pau e em pedra fria, podem mentalmente identificar-se com os materiais, cujo conjunto plural é masculino. E, por outro, “deidades” (que Camões emprega 4 vezes, claro que sempre no feminino, uma delas esta ocorrência, sendo as outras três todas no Canto VI para o conjunto dos deuses do mar, ou para a qualidade divina a que um deles, humano antes, foi ascendido), se é formalmente palavra feminina, representa um conjunto masculino, por constituído de divindades machos e fêmeas. Deste modo, e por mais de uma razão, a concordância existe psicológica, e mesmo sublinha o carácter ambíguo e hermafrodita de deuses primigénios e monstruosos. O lhe singular não concorda com as figuras, nem com as deidades, nem com vários, nem com as culturas que vêm depois – e não haverá modo de supor que se trata de uma concordância psicológica com um singular que o politeísmo não autoriza. Com quem então concorda ele? Não também (como poderia ser uma explicação mais longínqua) com o povo que em tais imagens acredita. É o latinismo de 3ª pessoa do pronome pessoal objecto – o Demónio o fingia, fingia isso (que a proposição introduzida por a segundo e a necessidade prosódica justificam) [4], se não é que se refere a Monçaide que, na estrofe anterior, vai entre o Gama e o Catual interpretando (e que, ao traduzir o que o Catual dissesse, acrescentaria o seu horror maometano por qualquer idolatria). Sem sabermos isto, impossível seria analisar realmente a estrofe, no que ao Demónio diz respeito. Quer num caso, quer no outro, ou directamente na impressão dos viajantes que Camões está a significar, ou indirectamente através de Monçaide, aquelas representações são invenção do Demónio (e de certo modo a classificação recai sobre qualquer representação, já que o uso a que os cristãos estão “usados” não é por si garantia de legitimidade absoluta). Na estrofe seguinte, desenvolvendo a comparação com a Quimera, Camões aduz mais analogias: Júpiter Amon com cornos, vários rostos num corpo como Jano, Briareu com muitos braços, o Anubis Menfítico com fronte canina – e é interessantíssimo, e típico da sua aguda inteligência, que metade dos seus exemplos sejam da religião egípcia (naquilo em que helenisticamente ela deu e tomou do paganismo greco-latino) [5].
VIII, 45
“Entretanto os Arúspices famosos
Na falsa opinião, que em sacrifícios
Antevêm sempre os casos duvidosos,
Por sinais diabólicos, e indícios
…………………………………………………
VIII, 46
Sinal lhe mostra o Demo verdadeiro,
De como a nova gente lhe seria [6]
Jugo perpétuo (…)
Vai-se espantado o atónito agoureiro
Dizer ao Rei (segundo o que entendia)
Os sinais temerosos (…)”
Agrupámos as duas citações, porque a segunda continua a primeira em contígua estrofe. Na primeira, temos um plural de Arúspices famosos, que, na segunda, se singulariza em um deles que vai ao Samorim dizer o que viu. Notemos, antes de mais, um interessante contraste, ou dois, com a ocorrência que anteriormente estudámos. Antes, havíamos observado algo que o Demónio fingia. Mas agora os sinais diabólicos (com que, nos sacrifícios, os Arúspices que são famosos pela falsa opinião que seguem – ou seja, o praticarem a ciência divinatória – anteveem sempre – as dúvidas em relação ao futuro: e registe-se o presente reiterado pelo advérbio) são um sinal que o Demo verdadeiro (“verdadeiro”, tanto por ser ele mesmo quem age na circunstância, como porque, qual se verá adiante, está a dizer a verdade…) dá do que, na História autêntica e na estrutura da epopeia, é um facto verídico: o domínio dos portugueses no Oriente. De modo que nem a falsa opinião é falsa por faltar à verdade ou ser uma mistificação, nem o Demo, em tais usanças, é tão mentiroso como se suporia! Razões tinha Camões para envolvê-lo nos cabalismos que usou. De resto, em X, 83, Téthis falará nos melhores termos da profética ciência que nos ensina, com cópia de exemplos, o funcionamento da Santa Providência por intermédio de espíritos mil, uns bons e outros maus. Estes dois passos, portanto, colocam as práticas divinatórias a uma luz que, estruturalmente, é favorável (com a hábil ambiguidade de chamar verdadeiro ao Demo, e de designar tais ideias por falsa opinião) [7], se bem que praticá-las seja ter contacto com o Demónio. [7a].
VIII, 65
“Se os antigos delitos, que a malícia
Humana cometeu na prisca idade,
Não causaram, que o vaso de nequícia,
Açoute tão cruel da Cristandade,
Viera pôr perpétua inimicícia
Na geração de Adão, co a falsidade”
Já mais do que uma vez, pela sua extraordinária importância ideológica, comentámos ou referimos este passo [8]. O Gama defende-se das suspeições do Samorim, dizendo-lhe que, se não fora isto, o Rei não suspeitaria tão malmente dele. A estrofe é tão especialmente concebida e composta, que, das 20 palavras (descontados artigos, preposições, conjunções e outros vocábulos gramaticais) dos seis versos acima, três só ocorrem neles (delito, prisco, nequícia), duas (açoute, inimicícia) só têm mais uma ou duas ocorrências, uma (vaso) tem mais cinco apenas, e outra (malícia) ocorre sete vezes sendo esta a intermédia da série de ocorrências – o que soma uma terça parte de raridades vocabulares para conotar o que é especialmente transcendente [9]. Delitos (plural) cometidos pela malícia humana, na prisca idade (o que acentua há quantos longos tempos aqueles delitos são antigos), causaram que o depósito de iniquidade (que é tão cruel açoute sobretudo, ou só, dir-se-ia, da cristandade) pudesse colocar permanente [10] inimizade na geração humana (simbolizada adjectivamente naquele Adão que, por sua vez, simboliza a perda do Paraíso), co a falsidade que provoca as suspeições, dado que o homem se tornou falso a si mesmo e aos outros (ou porque a falsidade do vaso de nequícia incita e cria essa falsidade que é a perda da inocência). Camões não emprega a palavra “pecado” para a falta originária, e sim delito. Não coloca a culpa deste no Demónio, mas na malícia humana que, cometendo-o, possibilitou uma inimizade entre os humanos, alimentada por aquele. E como que limita a acção mais activa do Demo aos cristãos (sem, no entanto, o haver referido para as bélicas divisões entre eles, quando, VII, 9, os comparou, como comentámos, aos dentes de Cadmo, e culpou das cizânias uma das Erínias ou Fúrias – de certo modo, um agente infernal). O Demónio, agindo contra os seres humanos, é assim uma consequência, sendo realmente a causa a malícia humana (ainda que ele tenha tentado os habitantes do Paraíso terrestre com o tornarem-se iguais aos deuses, se comessem do fruto da Árvore do Bem e do Mal). Só neste passo, como já vimos, é que ocorre o vaso de nequícia, ou receptáculo da iniquidade, e numa posição central. Trata-se de uma expressão bíblica que ocorre no “Génesis”. Mas é importante acentuar que vas em latim não é apenas “vaso”, “prato”, etc., mas “utensílio”, “instrumento”, pelo que a expressão tem um carácter mais dinâmico e activo do que parece à primeira vista, e mais de acordo com a forma verbal viera pôr que o poeta usa de predicado. Além disso, a expressão foi tradicionalmente usada, tanto para o Demónio, como para a humanidade em geral, e para a mulher em particular (dado que, por culpa dela, etc.), pelo que a relação entre a malícia humana e o vaso de nequícia admite vários níveis de interpretação e de correlação. Uma outra possibilidade, e no que respeita a falsidade, é com grande inteligência apresentada por Faria e Sousa nos seus comentários à epopeia, quando se ocupa desta estrofe. Os dois veros finais dela são os seguintes:
Ó poderoso Rei da torpe seita,
Não conceberas tu tão má suspeita.
Defende ele o poeta de acusações que haveria, de ter cometido um disparate, fazendo o Gama dirigir-se ao Samorim em termos deselegantes, chamando-o “Rei da torpe seita”. E chama a atenção para a circunstância de o Samorim ser um soberano “gentílico” e não “maometano” (caso em que Camões, como é facto, usa do adjectivo torpe), pelo que Ó poderoso Rei seria uma apóstrofe intercalada, a que faltaria uma vírgula depois e antes. Assim sendo, o que é dito seria: “que o vaso de nequícia (…) viera pôr perpétua inimicícia na geração de Adão, co a falsidade (…) da torpe seita” – e o Gama estaria a aludir às intrigas dos mouros contra ele, junto do Samorim, ao mesmo tempo que chamaria a Maomé o “vaso” em causa. Não cremos que seja este último aspecto o caso, nem necessário para ter-se em conta a interpretação de Faria e Sousa. O Gama diria que os delitos humanos, cometidos pela malícia humana na primeira idade, deram causa a que o vaso de nequícia viesse a dividir a humanidade em duas facções opostas, o cristianismo e o maometanismo, introduzindo a falsidade desta última seita entre os homens. Esta interpretação concorda com a atitude de Camões no poema, em matéria de religiões, ao concentrar a sua hostilidade cruzadesca contra a religião muçulmana, ao mesmo tempo que, com isso, deixa em paz as outras todas (e os judeus em especial).
VIII, 83
“(…) antes revolvendo
Na fantasia algum sutil, e astuto
Engano diabólico, e estupendo”
Tivéramos os sinais diabólicos que anunciavam o futuro domínio dos portugueses na Índia, e, após o Demo e o vaso de niquícia, temos agora um engano diabólico que começa gradualmente por ser “sutil”, que sendo-o, será também “astuto”, ainda antes de ser não apenas um engano, mas um engano diabólico. Isto passa-se na cabeça do Catual, que não dera ouvidos a Vasco da Gama por ele detido e que projecta destruir e às naus. O Catual, note-se, é duas estrofes antes dito o principal da cidade, e um dos que estavam corrompidos pela influência maometana (não o sendo ele mesmo). Assim, o engano que ele procura inventar na sua fantasia [11] não é directamente inspirado pelo Demónio, nem sequer pelos Mouros (ainda que a sua malevolência por estes o seja – torpemente, como acentua o poeta) – é algo que ele deseja tão refinado como o de que seria capaz o lendário Demónio que na humanidade pôs as suspeições e as intrigas. Mas não é “diabólico” em si e por si.
X, 108
“Um Reino Maometa, outro Gentio,
A quem tem o Demónio leis escritas”
Na descrição da Índia, por Téthis que complementa a que o poeta fizera em VII, 17-22, e que precede o episódio de S. Tomé, a variedade da região é indicada naqueles dois versos: há reinos maometanos, e reinos gentílicos. A eles deu o Demónio as religiões que possuem, ou mais exatamente os livros sagrados delas. Refere-se Camões ao Corão e à literatura bramânica, nos mesmos termos em que dissera que o Demónio “fingia” as imagens dos bramânicos templos. Foi efectivamente só para estes dois passos que escreveu Demónio (o Demo foi para o “sinal” em relação ao futuro dos portugueses no Oriente). Isto é, aquela entidade maligna, enquanto Demo, fornece indicações verídicas, e, enquanto Demónio, cria figurações monstruosas e indevidas, ou colabora na redacção de livros sagrados. De um ponto de vista estritamente judeo-cristão, todos os livros e imagens de outra religião não são em verdade “divinos”. Mas uma ou outra das projecções deste ponto de vista, quer para imagens, quer para livros, seria demasiado simplista, na tessitura de complexidade, que a epopeia é. Faria e Sousa, nos seus comentários já referidos, a estas estâncias diabólicas, sublinha que Camões só usa o Demo aquela vez, para o que é ele agindo como detentor de “ciência”, e que diabólico Camões só usa quando se trata de acentuar o seu carácter de “caluniador” (o que não corresponde às três ocorrências deste adjectivo, que observámos, a não ser para a de VIII, 83, e até certo ponto) [12]. Que Faria e Sousa está certo para Demo (que para mais é classificado de verdadeiro) não há dúvida pelo contexto. Mas que significa então a variante Demónio (e note-se que as quatro ocorrências de “demo” e “demónio”, pela categoria da personagem e porque ela é já um caso perdido, passaram todas com maiúscula na edição princeps)? Porque etimologicamente não há diferença entre uma forma e outra, já que demo é redução de demónio. Mas precisamente a etimologia nos porá no caminho da distinção camoniana. Demónio (que Corominas regista pela primeira vez em castelhano c. 1220-50) vem do latim tardio daemonium, que era um helenismo – daimonion, diminutivo de daimon. Este último vocábulo significava não o que cristãmente veio a significar, mas, na acepção exacta, um “espírito”, um “ente sobrenatural”, uma “divindade”, um “génio tutelar”, um “guia pessoal” (actividade que os anjos da guarda usurparam, deixando aos ditos cujos só o papel maligno) [13]. Portanto, e vigorosamente Camões usa demo como equivalente a daimon, e demónio como equivalente a daimonion (que, pelo diminutivo, é uma “divindade inferior” por estar abaixo dos deuses, e como tal poder ser identificado com um extra-mundo ou infra-mundo): o que significa que, com um golpe de mestre, enganou toda a gente ao dizer o Demo verdadeiro. Este é um espírito que o cristianismo elementar e rígido suporia o “diabo”, e que é na verdade o que demoniacamente consultado permite ver no futuro (não é maligno em si, mas pelos perigos que saber o futuro arrasta) [14]; aquele é uma divindade inferior, o “espírito tutelar” que os gregos atribuíam a cada pessoa (e por extensão a cada grupo humano). E nem um nem o outro são necessariamente o satânico inimigo de Deus [15]. Deste modo, o Demo pode ser o que dá indicações sobre o futuro, e o demónio aquele que, a gentios e a mouros, inspirou imagens e leis escritas.
De tudo isto se conclui que, para Camões, é possível que existisse o Inferno horrífico e omnipresente também. Mas de Satã não lhe escreve directa ou indirectamente o nome uma única vez. E demo, demónio, diabólico, que ele rodeia de cautelas cabalísticas, são pura e simplesmente entidades da cultura helénica, disfarçadas do “açoute tão cruel da Cristandade” – suprema ironia [16].
NOTAS
A Aliás este espaço começa 46 estrofes (2 X 23) depois da estrofe da Besta Triunfante, que é contraditoriamente a da chegada à Índia: 666 – VII, 1. Com efeito é 666 + 46 = 712. E a média dos números de ordem das estâncias limites desse espaço, e do número da última ocorrência efectivamente “diabólica”, é:

sendo esta estrofe a do início da viagem de regresso, quando as naus se afastam da costa da Índia (e vão logo encontrar a Ilha dos Amores). O que ocorre 201 estrofes depois da da Besta, e 201 é 3 X 67 = X 3 X (2 X 33 + 1).
1 Note-se que 123 é 3 X 41, e que este número pode ser cabalisticamente entendido como a soma de 31 que representa o Poder de Deus e 10 que são os sefirot.
2 Diabólico, em VII, 76, refere-se à artilharia, diabólico instrumento, adicionalmente caracterizada pelo fogo e o estrondo, já que “Se faz ouvir no fundo lá dos mares” (aonde já sabemos que, abaixo dele, está o Inframundo). Fogo ocorre 43 vezes na epopeia, cerca de 25 das quais em contexto bélico, sendo as outras ocorrências referentes ao amor, ao elemento primordial, ao fogo de Pentecostes. Fogueira não ocorre. Lume ocorre oito vezes, todas em nobre e não diabólico sentido. Ardente ocorre 39 vezes, e só tem conotação nimiamente infernal na ocorrência citada, X, 148. Queimar ocorre 12 vezes, nenhuma em alusão infernal.
3 Note-se que o 38 que separa entre si as quatro estrofes centrais por sua vez se reparte em 1-19-18. Por outro lado, 712 é o total de estâncias do poema subtraído de 390 (2 X 3 X 5 X 13); 797 é metade daquele total somado do dobro de 123; 798 é 2 X 3 X 133; 817 (o vaso de nequícia) é esse total subtraído de 5 X 57, etc.
4 É muito curioso notar, a propósito deste uso de lhe, que A. J. Saraiva e Óscar Lopes (História da Literatura Portuguesa, 5ª ed., Porto, 1967, p. 501) fazem a observação seguinte, ao tratarem do Pe. Manuel Bernardes: “É preciso reconhecer entretanto que esta nova fase de latinização estilística tem em Bernardes alguns aspectos que se devem considerar deformantes da índole do português; chega a actuar por exemplo sobre o uso corrente das preposições ou regime sintáctico dos verbos: em vez de satisfaço-o Bernardes escreve satisfaço-lhe, latinismo sintáctico incómodo, entre vários outros.” Independentemente de, com perdão dos autores, o caso em exemplo não ser de “preposição”, nem de “regime sintáctico dos verbos” especificamente, o latinismo, se o é, foi corrente nos clássicos dos século XVI e XVII, e passou à linguagem coloquial do Brasil, aonde precisamente toda a gente sente “incómodo” (e até pedantescamente ridículo) o uso sistemático do o em vez de lhe. O que será mais deformante da índole do português (e o que será linguisticamente “índole”?) – a regra agora habitual em Portugal, ou o hábito de milhões de falantes?
5 Júpiter-Amon era a identificação romana de Júpiter com o deus egípcio Amon (oriundo da Líbia e do Alto Egipto, como Camões não ignora, e aponta), em consequência de identificação com Zeus já praticada pelos gregos. Anubis, que Camões classifica de Menfítico (com o que caracteriza a sua antiguidade egípcia, em comparação com Amon), foi estimado de gregos e romanos, e o seu culto – identificado de certo modo com Mercúrio enquanto “psicopompos” – foi, como outros egípcios, introduzido em Roma no tempo do Império (e ele era filho de Osiris, o que o colocava, em relação ao deus supremo, numa posição análoga à de Hermes-Mercúrio). Jano era um deus peculiarmente romano, sem correspondência no panteão grego, e tido pelo mais antigo e sacrossanto dos deuses de Roma – Camões, que tanto sabia a estes respeitos, não ignoraria isto, mas menciona-o, no contexto, pela natureza bifronte das suas representações iconográficas. Em X, 82, Téthis nomeia-o entre os exemplos que dá de os deuses serem “fabulosos” (e poderia o poeta indicá-lo, e terá isso em mente, como exemplo de humano promovido a deidade, já que a tradição romana o dava como o mais antigo rei do território que veio a ser a cidade de Roma). Briareu era um dos gigantes de cem braços, filhos de Urano e de Gea. Note-se como as quatro entidades, que Camões nomeia por possuírem uma iconografia ou uma natureza monstruosa, são escolhidas entre as de categoria divina, e dos mais antigos no tempo ou na genealogia dos deuses. Jano, por exemplo, o deus dos deuses, tinha em Roma precedência sobre o próprio Júpiter.
6 Estas duas ocorrências de lhe, uma delas é apenas alusão sintáctica ao agoureiro que logo adiante aparece destacado na estrofe, e não deve ser assimilada ao caso discutido anteriormente; a outra, que também o não deve ser, não é tão simples. Com efeito, esse outro lhe referir-se-á ao Rei a quem o agoureiro vai dar conta do que entendeu nas entranhas das vítimas podendo também referir-se a ele mesmo, o praticante de sacrifícios divinatórios, aos quais os portugueses seriam hostis.
7 Opinião ocorre mais três vezes na epopeia, todas antes desta: IV, 13; VI, 44; VII, 59. É sucessivamente a opinião de todos, às vésperas de Aljubarrota, de que só os temerosos dissentem; a opinião ou porfia que, uma ou outra, criaram a discórdia na corte britânica; a opinião do Rei, e povo todo que reconhece autoridade na voz do Gama. A primeira e a terceira são nitidamente positivas, a segunda é indicativa de divergência de ideias ou juízos (que pode, diversamente, ser uma teimosia exagerada). Assim, Camões sentiu que teria de classificar de falsa a opinião dos que crêem em Arúspices e lhes garantem a fama… Falso ocorre 27 vezes no poema, mas só neste passo se aplica a vaticínios. Falsidade ocorre 8 vezes, só uma das quais com conotação diabólica (VIII, 65), que examinaremos adiante.
7a A respeito destas adivinhações, nas duas estrofes em causa, Faria e Sousa nos seus comentários a elas faz o impossível para defender o poeta do que se sente que eram acusações e suspeitas de alguma gente. Da estrofe 45, e da falsa opinião, afirma: “Escribe el Poeta como verdadero Católico, llamando opinión falsa al exercício de adivinar el futuro, como ella lo és”, e volta novamente à carga no comentário à seguinte, atacando os que achavam que Camões dava por verdadeira afinal a arte de adivinhar o futuro… Tenha-se presente que Faria e Sousa menos está realmente, aqui como em muitos outros passos da sua admirável obra, a alistar Camões na mais pura ortodoxia, que a defendê-lo dos perigos que a poesia dele correria, se se estabelecesse a opinião de que ela não era efectivamente ortodoxa – o que essa opinião poderia fazer já se observara na incrível “edição dos Piscos”, com a deturpação e alteração das passagens “perigosas”… Sente-se que FS sabe muito mais do que diz, e entendeu muito melhor do que às vezes explica. Também nas entrelinhas de FS há muito que se disfarça.
8 Não será demasiado insistir em que o método usado nestes estudos, destinado a seguirem-se determinados fios conductores na imensa trama de Os Lusíadas, para evitar os comentários que se afastam do texto, e investigar os próprios sentidos do como está dito, necessariamente implica a repetição da análise de certos passos em que esses fios se cruzem ou coincidam. Não porém a mera “repetição”, mas a penetração desse passo por uma outra entrada, de modo que as observações se sobrepõem, tal como os vocábulos se justapõem na linguagem. Para leitores e estudiosos longamente viciados pelo hábito da leitura desatenta, em que só encontram aquilo que já lá puseram, toda e qualquer pesquisa metódica é absurda e diminuta – aquelas luminosas inteligências logo pariram genialmente, sob o “bafo” do Espírito Santo, como diria Monçaide.
9 Esta malícia humana está entre a malícia dos mouros em Moçambique (I, 92) e em Mombaça (II, 9) e a dos indígenas que perseguiram Fernão Veloso (V, 34), por um lado, e, por outro, a do Catual (VIII, 79; VIII, 90; VIII, 91), sendo de notar que, das sete ocorrências, três estão quase a seguir a este passo que comentamos, e no mesmo Canto. A palavra só ocorre, pois, para autóctones que não confiam nos nautas (e não está necessariamente conexa com inspirações diabólicas ou maquinações de Baco). A “malícia”, portanto, é sobretudo, não só a “desobediência” com que se perdem Paraísos e Idades de Ouro, mas a peculiaridade humana de não acreditar nos outros, e experimentar por conta própria (aquilo mesmo que o Velho do Restelo verbera noutro contexto alusivo ao Pecado Original), de desconfiar que alguém, mesmo Deus, nos quer privar de alguma coisa que estaria ao nosso alcance. Vaso é o negro vaso, cheio de água do esquecimento, em que Baco antevê sepultada a sua fama índica (I, 32), os vasos de vidro em que o Gama serve o vinho plantado por Baco (I, 49), os espumantes vasos, em paralela situação, que contém o vinho inventado por Noé (VII, 75), esta ocorrência, o vaso estreito que o coração dos nautas é para a alegria de regressar à pátria (IX, 17) e os “vasos onde em vão trabalha a lima”, e em que são servidos os vinhos e a ambrósia no banquete da Ilha dos Amores (X, 4). A sucessão começa com um vaso figurado, passa a vasos de verdade (em que o vinho é ora criado por Baco, ora por Noé, numa alternância da tradição bíblica e da tradição clássica) duas vezes referidos, depois a vasos duas vezes figurados, e concluiu-se por vasos que são simultaneamente reais e simbólicos. Esses vasos só uma vez são realmente o de nequícia, como é declarado então. Inimicícia ocorre mais uma vez, para as que nascem da tirania (VII, 8) – o que pode prenunciar que a causa profunda de toda a inimicícia é uma tirania que o demónio simboliza. Açoute ocorre antes, para Átila, que a si se chamava “flagelo (ou “açoute”) de Deus”, ou tal foi chamado (III. 100), e para Nun’Álvares Pereira, que o é dos soberbos Castelhanos (IV, 24), pelo que ou o Condestável está a santificar o grupo, entre Átila e o vaso de nequícia, ou este não está em má companhia, como instrumento de castigo divino (à semelhança do merecido pela Europa devastada por Átila, ou pelos castelhanos atrevendo-se contra a independência portuguesa). Delito aparece em castelhano nos princípios do século XIV, e figura em português nas Ordenações Afonsinas (Corominas aquela indicação, Morais, ed. mod., esta). Prisco é um dos vocábulos que Faria e Sousa dá como “peregrino”, nos seus comentários à epopeia, isto é, palavra que Camões introduz na língua literária, ou que não era de corrente uso nela. Sobre estas 120 palavras e o uso delas por Camões, veja-se o capítulo apendicular destes estudos. [Este capítulo não chegou a ser redigido pelo autor].
10 Perpétuo, nas 9 ocorrências que tem, para a juventude de Baco, o desterro que Inês de Castro suplica, a fome de Cérbero, o sono (da morte) de cavaleiros antagonistas dos Doze de Inglaterra, a roda (o rodar) do céu, os muros edificados por Ulisses, o jugo que os portugueses imporão à Índia, esta ocorrência, e a memória que ficará de Henrique de Meneses, define um conjunto com conotações de “eternidade”, “até ao fim dos tempos” (ou do tempo de cada um, como é o caso de Inês na sua súplica), “permanente” em carácter absoluto.
11 Fantasia ocorre 8 vezes. É a cauta fantasia que, com a suspeita, as palavras enganosas de um mouro “desterram” do “peito” do Gama, em Mombaça (II, 6). É a que constitui os juízos de alta fantasia com que a Grécia “o Céu penetra” (III, 13). É a fantasia de D. Pedro apaixonado por Inês e recusando casar-se (III, 122). É – e este passo (III, 43) requer especial comento:
Desculpado por certo está Fernando,
Pera quem tem de amor experiência:
Mas antes tendo livre a fantasia,
Por muito mais culpado o julgaria,
– é o final do Canto III, e o fim do comentário sobre o amor, a propósito de D. Fernando I. Quem está a ter experiência de amor, desculpa por certo o amante de Leonor Teles, quem tiver livre a fantasia, julgá-lo-á mais culpado do que ele é. A fantasia é aqui a mesma de D. Pedro, mas há uma importante diferença que é a experiência que permite compreender e desculpar (porque permite a identificação parcial – “por certo” – pelo menos, com a “culpa”, ou seja a fixação da “fantasia”). É a leve fantasia do Homem, que a “enleva” na “gostosa vaidade”, segundo o Velho do Restelo (IV, 99); a insana fantasia dos portugueses, como representantes da humanidade, “de tentarem o mar com vela e remo”, segundo Baco denuncia aos deuses do mar (VI, 29); esta ocorrência; e aquela fantasia em que “Sonhando, imaginando, ou estudando” se não aprende a “disciplina militar prestante”, conforme Camões avisa a D. Sebastião no fim da epopeia. A fantasia é, portanto, aquela faculdade do espírito ou da alma, para Camões, com que se visualiza afectivamente, ou por acção da vontade, ou da prudência experimentada – e em que o sonho, a imaginação e o estudo coexistem, mas só são válidos se a experiência da vida os compensa. Uma forma mais espontânea, ainda que iluminada pela razão, é o que significa o verbo fantasiar na sua única ocorrência (VIII, 86). Mas fantásticos é posto em contraste com verdadeiros em IX, 70, e é associado com fingidas, mentirosas, em I, 11, para as vãs façanhas dos inventados heróis dos poemas épicos do Renascimento.
12 Diabolos, em grego, como Faria e Sousa aponta, significava realmente “caluniador”. Mas é de notar que os sinais diabólicos que os Arúspices buscavam e que um deles encontrou não caluniavam ninguém, e diziam a verdade em relação ao futuro imperial dos portugueses. O que não é dos menores jogos vocabulares de Camões, que Faria e Sousa tentava encobrir.
13 Para os gregos, daimon era a “divindade” em geral, no sentido de “espírito divino”. Mas muito cedo, relativamente, eram já espíritos intermediários, servidores e auxiliares dos deuses, às vezes supostos os dos homens que haviam vivido na Idade de Ouro, e que cumpriam a missão de guiar os vivos. Sócrates tinha um demónio, ou mais exatamente, demo familiar que o avisava quando alguma decisão ou acto era errado. Este tipo já é outra diferenciação: o do espírito encarregado de tomar conta de cada mortal. Daqui resultou o problema de explicar-se o Mal: e chegou a ser suposto que cada pessoa tinha dois, um para as boas obras, outro para as más (como sucede no Auto da Alma de Gil Vicente…), ou que pessoas com sorte tinham um demo de boa têmpera, enquanto outras eram servidas de um demo de fraca firmeza de carácter. Os romanos acreditavam nos espíritos, mas viam-nos sobretudo como almas do outro mundo, espectros maldosos e perigosos, as larvas, que o eram de gente que tinha sido má. Camões atém-se à visão já neo-platônica de os espíritos bons e maus, os demos e os demónios (sem separá-los rigidamente), intermediários da Santa Providência, como declara (ou Téthis…) em X, 83. Os judeus primitivamente temiam os “demónios” dos desertos (por isso foi no deserto que um apareceu a Jesus Cristo) e dos bosques, o pior dos quais era Azazel, a quem se enviava o bode expiatório carregado dos pecados do povo (simbologia que passou às visões messiânicas dos profetas, e deles à redenção cristã). Mais tarde, em contacto com o Zoroastrismo, que desenvolvera toda uma teoria angélica, foi que, no judaísmo, se ampliou a noção de um adversário de Deus, uma figura arquetípica do Mal, como chefe dos “demónios”.
14 É muito interessante que Faria e Sousa, na sua defesa destas estrofes, comenta que o que há de demoníaco em ver no futuro, e com que o diabo engana, é o ser-se tentado a realizá-lo, e, para tal, não recuar ante nenhum crime. O que é exactamente a teoria de Shakespeare, desenvolvida em Macbeth – foi o saber o que o futuro lhes reservava que lançou o protagonista e sua mulher numa cadeia de crimes que os destruiu (mas as profecias iam-se cumprindo).
15 Satã é a transcrição da palavra hebraica que significa “adversário”. Satanaz resultou da transcrição da transcrição grega, que a palavra é. A assimilação com diabolos provém de influências gregas (e como tal o Diabo é mais frequente no Novo Testamento do que Satã o é). Mas a noção de um Satanaz é na verdade um desenvolvimento do judaísmo tardio, que encontrou na primitiva teologia cristã um campo ideal para expandir-se, com a discussão do problema do Mal e do sentido da salvação. O dualismo zoroastrista marcou assim a religião judaica, mas nunca ao ponto de pôr em causa a própria natureza de Deus – o mal entra nos cálculos providenciais da divindade (ideia que perpassa na epopeia camoniana), ainda quando visões apocalípticas falem de duas ideias do mundo, uma dominada pelo Mal, e outra em que Deus restaurará a pura Criação (a Idade de Ouro). De tudo isto resulta que o maniqueísmo camoniano é uma dualidade intelectualista de natureza dialéctica, em que o Bem e o Mal, a vida e a morte, a luz e as trevas, todos os opostos possíveis, lutam entre si e se harmonizam numa transformação perpétua de que renascem sucessivamente e continuamente (como apontámos em Uma Canção de Camões). Na teologia “liberal” de Camões, Satã não desempenha qualquer papel. O “adversário”, o “vagamundo” (que um jogo de sons, em hebraico, e que a Cabala veio a desenvolver como as crenças populares, dá também por sentido à palavra), não existe para ele. Por isso, a predestinação camoniana não é tão de raiz agostiniana, quanto judeo-helénica: o predestinado é o “eleito”, o marcado pelos Fados. Note-se, por outro lado, que aquela visão dialéctica da natureza mutável e permanente das coisas e do pensamento é o que possibilita filosoficamente que, na estrutura de Os Lusíadas, tudo possa significar duplamente o aparentemente oposto.
16 Palavras que assumiram significado diabólico por eufemismo linguístico, como inimigo ou malino (= maligno), não têm conotação tal no poema. Inimigo (que é diversamente grafado “inimigo”, “immigo”, “imigo”) ocorre 47 vezes como substantivo e 26 como adjectivo – uma vez é os immigos da alma (X, 55) avaliados em sete, que são pois os pecados mortais. Malina é quatro vezes aplicado à gente moura (I, 99; II, 32; VIII, 58; IX, 6), e uma no mundo vil, malino (IX, 42) que deve tomar exemplo dos mistérios celebrados na Ilha dos Amores, e entender quanto deve submeter-se aos mandados de Eros. Inico (iníquo) também não tem conotação diabólica, como também não maldito que ocorre duas vezes. O verbo tentar, tão diabólico, não existe no poema, e condenar-condenado, que ocorrem, não têm essa conotação (a não ser, em sentido muito especial, para David Santo, como vimos). Mal ocorre 20 vezes, só uma vez em curioso sentido que nos importa aqui, quando Baco se queixa, aos deuses do mar, de que os Fados, protegendo gente como os portugueses, ensinam o mal aos próprios deuses (VI, 33). Quanto ao deus Baco, que já comentámos mais do que uma vez, cumpre resumir aqui que ele é tão o próprio Deus como Vénus o é.