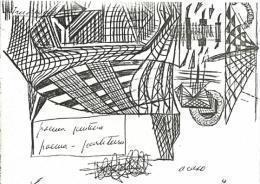Nem todas as viagens são de exílio. Jorge de Sena era um indivíduo em constante deslocamento, de andanças e peregrinações, sempre fixadas em poesia. Abaixo, alguns poemas de exemplo, registros das viagens do escritor pela Europa:
- “Chartres ou as pazes com a Europa” (de Peregrinatio ad loca infecta, Poesia III)
- “Travessia” (de Peregrinatio ad loca infecta, Poesia III)
- “Florença vista de San Miniato al Monte” (de Peregrinatio ad loca infecta, Poesia III)
- “Vila Adriana” (de Peregrinatio ad loca infecta, Poesia III)
- “Amsterdam” (de Exorcismos, Poesia III)
- “Ampúrias” (de Exorcismos, Poesia III)
- “O Anjo-músico de Viena” (de Exorcismos, Poesia III)
- “Piazza Navona e Bernini” (de Exorcismos, Poesia III)
- “A uma calista de Milão” (de Exorcismos, Poesia III)
- “Plaza Mayor de Salamanca” (de Exorcismos, Poesia III)
- “Galiza” (de Exorcismos, Poesia III)
- “Atenas” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “Memória de Granada” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “S’Hertogenbosch” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “Anderlecht” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “Madrigal de Las Altas Torres” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “De Glasgow a Londres” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “Terras de Escócia” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “Crepúsculo ao sul de York” (de Conheço o sal… e outros poemas, Poesia III)
- “Paris, um verão” (de Visão Perpétua)
Chartres ou as pazes com a Europa
Em Chartres, ó Peguy, eu fiz as pazes
com a Europa. Não que eu estivesse zangado,
mas estava esquecido. Primeiro
o almoço num pequeno hotel da praça
nem sequer de luxo, e todavia,
no domingo burguês com as famílias
déjeunant en ville, tão vieille France,
e os criados felizes de servirem bem,
e a gente feliz de assim comer com tempo,
gosto, prazer, e elegância. Da Réserve
Couronnée, ou do meio-dia planturoso e fosco,
fiquei tocado até às lágrimas.
Estou a ficar gagá, tout doucement.
Depois, Nossa Senhora, Chartres, Idade Média,
e a paz desta saudade n’alma
e a certeza de que este mundo tem de resistir
– e há-de resistir – à grosseria,
às bestas e ao vulgar, às multidões, a tudo:
como o veau flambé, como os vitrais de glória,
como esta flecha erguida sobre a Beauce,
imagem tão viril de Nôtre-Dame
a meio das campinas infinitas
que os séculos dos séculos calcaram
até fazê-las este plano horizontal de que,
portais de majestade, concreção de fé,
a nossa humanidade é pedra sem retorno
à natureza informe. Tal como a Deusa-Mãe
na cripta contida se transforma
nesta de vidros ascensão fremente
de cores que a luz acende mas não passa.
Europa, minha terra, aqui te encontro
e à nossa humanidade assim translúcida
e tão de pedra nos pilares sombrios.
(Chartres, 10/11/1968)
Travessia
Após cinco dias de sonolenta travessia
quase sem barcos, e sem nenhuma ilha,
apenas sobre um mar de ondeado azul sombrio
ou de estanhada palidez monótona
(ó mar – perene sangue a que regresso
nesta viagem como um ventre, um ovo,
o sumptuoso paquete de New York a Southampton),
de madrugada entrámos um par de horas
no Havre.
O tempo era pouco para ver-se a cidade.
Desci porém a terra, tonto como uma criança,
pousando com cautela os pés no cais.
Não por ser a França o que pisava na calçada suja:
Europa
(mais velha, como eu, quase dez anos).
(5/5/1969)
Florença vista de San Miniato Al Monte
Abrigado na brancura multicor de um românico
italianamente clássico, o cardeal de Portugal
dorme, primeiro túmulo da Renascença,
o seu sono (inquieto?) virginal.
Será que a morte – erecta – lhe forçou
o orgasmo que ele recusou à vida?
Converso disto com os monges brancos,
risonhos, sem inibições. E desço a escadaria
de San Miniato al Monte. Outonal e fria
a tarde é rubra no Arno e em Florença ao fundo.
Na esplanada sobre o vale, sento-me
ao silêncio do entardecer, vendo
Florença, com as suas cúpulas e torres, que escurece
austera e refinada: o Duomo, o Bargello,
Santa Croce, os Uffizi, o Palazzo Vecchio
a ponte antiga, o Campanile, tudo – e os montes
e os ciprestes, e o céu pálido, a lua:
um momento incrível de fé na grandeza humana,
que não existe já mas paira ali suspenso,
ecoa pelas praças e nos pátios,
um misto de rigor e de volúpia, dignidade
das coisas e das formas, que o cardeal,
aqui do alto, e na margem oposta,
velou dormindo, e vela, virginal.
(10/5/1969)
Vila Adriana
De súbito, entre as casas rústicas, e a estrada,
e o monte agreste e Tivoli, o invisível
oásis gigantesco.
Ao sol que passa
um arvoredo esparso, os campos verdes e
paredes, termas, anfiteatros, lagos,
e a paz serena e longa do Canopo
onde como antes cisnes vogam.
Palácio, o império em miniatura,
e sobretudo a solidão povoada
de guardas, secretários, servidores,
e gladiadores, e de uma sombra hercúlea,
ao mesmo tempo ténue e flexível,
e em cuja fronte os caracóis se enredam.
Neste silêncio em ruína, as sombras descem frias.
Mas para sempre o Imperador está vivo,
e o sonho imenso de um poder tranquilo
em que até mesmo escravos fossem livres
e as almas fossem corpos só tementes
de não salvar na vida o ser-se belo e jovem.
(7/5/1969)
Amsterdam
Canais concêntricos e radiais – vermelho –
hippies milhares na praça da estação –
as velhas casas dos patrícios dormem –
a sinagoga portuguesa ardeu
com letreiros dos nomes dos rabis
Mynheer Monteiro (e Sousa) (e Santos) – no
museu as sombras e na casa em que
viveu Rembrandt com a esposa nos joelhos –
em montras aos passantes mulheres nuas
turinas loiras Rubens se exibem
todas em burga e respeitável calma.
Noutro museu as memórias judaicas
da cidade que pôs a estrela de David
quando os nazis mandaram que os judeus a usassem.
(1/1/1970)
Ampúrias
Na tarde como Grécia imaginada
o ar se pousando claro à beira-mar
do golfo a recurvar-se verde-azul.
O cais primevo pende em ruína n’água
tão calmente em volta como pela areia
ondículas de praia silenciosa.
Paredes, ruas, casas rente ao chão
de que escavadas emergiram: pedras
branquipardas, secas de um aragem
quão perpassante e rasa nas colinas.
Aqui de Ibéria os gregos se fizeram
primeiramente terra das Espanhas.
(26/1/1970)
O Anjo-músico de Viena
Por trás do Dom em Viena,
após ter visitado o imperador Frederico III
que aí jaz (o marido de Leonor de Portugal,
com ele a mãe de Maximiliano de Áustria
por ela desejado o novo Constantino
e até exigia que a tratassem por
imperatriz Helena – de grandezas
mania tão de lusitano típica,
tanto mais que ninguém de portuguesas
antes dela chegara ao Santo Império)
– a luz faltava sobre o túmulo gigante
e houve uma briga, padre e sacristão,
em busca do interruptor, irados e germânicos –
comprei por trás da dita catedral
numa rua escusa um pequenino anjo
músico, esculpido em madeira
dentro de uma redoma, “souvenir”
modesto do lugar. Ali, ali,
enquanto o Fidélio do Karajan
ainda me lembra em preto e branco e cinza
na Ópera assistido, o poente da
Califórnia o ilumina de ouro suave
na prateleira em que pousa.
Fugindo a luz, o anjo toca e dança.
Em silêncio, imóvel, dentro
da redoma de prosaico plástico.
(17/1/1971)
Piazza Navona e Bernini
Palácios com aquele ar que em Roma
descasca de velhice o mais moderno prédio.
E a fonte de Bernini. Essa água toda
de que ele tinha em Roma o monopólio.
Mas noutra parte a colunata ascende.
E Santa Teresa, ante a seta do anjo,
vem-se de penetrada em vôo de pintelhos
que o hábito lhe roçam esvoaçante
num pélvico bater que a estoura de infinito.
(Chambéry, 27/7/1971)
A uma calista de Milão
Sob uma carioca bruma seca
também negro smog de Los Angeles,
Milão se estende noveau riche e cálida
numa abafação de estio lamentável.
Não vi quase Milão. O castelo Sforza
tinha o museu fechado, e o pátio cheio
de caranguejolas de ópera ao ar livre.
Também não vi, em Santa Maria delle Grazie,
o Cenacolo do Leonardo, fechado para
descanso dos artistas à 2a. feira.
Em Santo Ambrósio, lá estava o santo escaveirado
o mitrado entre o par (exagero promíscuo) de esqueletos romanos
soldados que nunca converteu. Em São Lourenço
(que resto de colunas ante a igreja, ó Roma!)
a capela Portinari estava também fechada.
Mas na estação Central as putas sobretudo machas
eram a Itália corrupta da democracia cristã
e serão dentro em pouco mui viris fascistas.
E encontrei uma calista, uma princesa
como de Bizâncio, de ícone as mãos, Senhora do
Perpétuo Socorro, de origem sarda mas
nascida em Milão. Tratou-me os pés martirizados
pelas calçadas da Itália como se fora o Miguel Ângelo,
e falou da sua Itália que acha – patrioticamente –
reles e torpe. Segundo ela que é
da opinião do rei analfabeto
feito lenda heróica do Risorgimento
(e que em Londres perdeu vitoriano casamento
por ter observado que as inglesas não usavam calcinhas),
os italianos não são de nada em política
(só máfia e vagabundos e fascistas).
Dante e Petrarca (Italia mia) e o Tasso e o grão Boccaccio
e o Bruno e o Campanella, e Giotto e o Tiziano Vecchio,
e os Médicis banqueiros, e os condottieri
desvergonhadamente mercenários – ó Machiavelli, tudo em vão…
Calista soberana, artista em pés doridos!
Tu não disseste, mas a tua Itália
é o puro exemplo de que na vida humana
há só uns quantos raros transformando em ouro
a merda milenária, e sempre a multidão
ansiosa de burguesa e de servil a transformar em merda
os oiros todos de sofrer-se o mundo
e de lhe dar em forma o senso que não tem.
Para quê obras de arte? Pra quê a literatura?
Há sempre em tudo, como nas ruas gloriosas
da Roma do Império e dos barrocos papas,
um vago cheiro a estival merda que se escapa
dos respiráculos sob as galerias em que lojas e bares
são modern style como a catedral em Milão
cheia de agulhas ferroviárias e de confessionários
para alívio dos borborigmas de alma
desta canalha humana esbarrigada ao sol
de um Verão como que eterno. Ó calista esguia,
ó mãos tão afiliadas em brandir bisturis!
Meus pés vão recordar-te gratos neste caminho da vida,
de cuja selva oscura não há já saída.
(Chambéry, 27/7/1971)
Plaza Mayor de Salamanca
I
De luz e sombra se recortam corpos
que não nas gralhas-grilhos destas vozes
tão de Castela vertical chilreio.
Ou digam se não digam que não digam
me falam dons de na distância em tempo
quando na Espanha Portugal vivia.
Ou quando era de exílio que na morte entrava
altiva e sitibunda e lealtad de España.
II
Que português não só de Espanha morre
mas de morrer-se não sequer conhece
a morte que de Espanha o sopra e mata?
Sentado nesta praça em Salamanca
de arcadas, medalhões e de janelas,
este quadrado incrível de elegância trémula –
mas catedrais são duas que de ao sol se douram
e dentro em cores o Juízo para o céu explode
uma harmonia que destrói o inferno.
Que português não só de Espanha morre?
(Salamanca, 1/9/1971)
Galiza
Aires airinhos aires
airinhos da minha terra:
qual terra me dareis vós,
se a vida em morte se encerra?
Airinhos aires airinhos
de língua que fora minha:
que língua me dareis vós
na vida que vai sozinha?
Aires airinhos aires
da carne que se envelhece:
que carne me dareis vós,
se a rede a morte me tece?
(1/9/1971)
Atenas
Também na Grécia eu. Custou mas foi.
Cheguei depois dos outros. Só Atenas vi
sob um calor de trópico e derrete
os deuses e os humanos nesta poeira seca
de montes e de praias sob um céu de névoas
com mar azul de sol e de ilhas carcomidas.
Vulgar cidade e bizantinas pobres
igrejas sem de torres tesas para o ar
mas padres gordos negros e sebosos
de barbas e rabicho pelas ruas cheias
de gente mais ruidosa que latina,
morena e grácil, juvenil e glabra,
negra de pêlos e cabelos, olhos
que descarados se abrem de pagã malícia
aguada, oriental, risonha num comércio
de perpassar desejo que se exibe em graça
como de arcaica estátua, torso, pernas
andando em firme passo de ombros duros
que fluidas ancas pela cinta quebram
– tão como nós de Europa o outro extremo
se Roma e cristandade a nós nos não vestira
de uma ausência castrando os deuses atrevidos.
Ruínas há de Adriano imaginada
a Grécia já, que só de Antínoo foi
no desfazer-se o antigo em corpos que só mortos
a deuses ascendiam como heróis de amor,
sacrificados touros para império ou escravos
um pouco mais para viverem contra as Parcas fúteis
então mais implacáveis de acabar-se o fio
que por tempos de Apolo e de Diónisos
com de um ou de outro à morte entreteciam.
Mas como fortaleza, ou rocha, ou monte
a que não chega nem ranger da carne,
nem gritos dia a dia de sofrer-se a vida,
nem mesmo estalar de ossos no deserto,
ergue-se alheia a tudo e sobre tudo a Acrópole.
Polida a pedra tão marmórea em lâminas
como crispadas vida em deuses congelada,
degraus mais altos que a medida humana
não teve tempo de gastar, e ruínas
de templos de altares saqueados frisos:
é como se de um lado pousassem
em peso de balança contra o mundo
as lajes e as colunas do Parténon,
nem grande nem pequeno só exacto,
medida insuportável de consolo agora
que os deuses e os humanos se perderam de
numa escala encontrar-se à mesma escala unidos:
aqui, sobre esta pedra gigantesca
que a nossos pés se foge de polida,
e onde milagre o se milagre foi:
os deuses como humanos, como deuses estes
ao mesmo tempo uma cidade e gente,
um vértice jamais revisitado,
devastada memória do poder ter sido.
Não foi, e não será. Em vão Antínoo
se matará, em vão suas estátuas
desviam de fitar-nos seu olhar vazio,
no lateral volver de uma cabeça
a caracóis penteada com volúpia,
sonhando ruínas em que o amor não fôra
o sangue e a morte de suspensos corpos
em árvores cortadas à cortada vida.
Desçamos tristemente a escadaria
de Propileu que se abre para baixo,
para as cidades rentes à traição divina.
E fique no alto como só castigo,
irónico chicote da Ateneia Palas,
o vértice perfeito imaginado outrora
para que à luz do sol ou das estrelas,
ou da gélida Artemis virgem ciosa
como a que cuja lança ali marcou o ponto
de uma oliveira sacra de entre céu e terra,
fique de nós o estigma e o pecado:
a humanidade de si mesma alheia
que ali subiu um dia, e voltou costas,
e veio passo a passo até às vis
cidades da planície a desejar dos anjos
o que dos deuses teve medo quando
as virgens e os efebos que eles raptavam
passaram a vender-se por uma alma quanto
só de imortais teriam em gratuitas garras
das águias e dos cisnes recravadas
em corpos como os destes que perpassam
aonde o mar primevo já não lava praias
e só babugem deixa de universo podre
de humanos que o percorrem sem favor dos deuses
e não regressam nunca ao lar das Ítacas
de que nenhum pecado os separava
e só esse prazer tão dulciamargo
de retardar a volta como os deuses sempre
que voando se afastavam de um eleito
abandonado por um outro à beira
da fina linha a dividir o espaço
entre o divino e o humano onde os heróis se geram
ou nos corpos idênticos a nódoa
ficava de uma posse que seria voz
e um recordar em ritmo o milagre ideal
de ser-se por momentos em divinos braços.
Nem mesmo essa memória nos possui
como mais que maldita: e quando a escutam
é só por suporem-se expiados
do risco a que escaparam de ter sido eleitos.
Sentem-nos na sombra da explanada
em frente do museu. Lá dentro existem
– fechada à noite a porta – estátuas e
as máscaras douradas de Micenas,
que só em ouro as máscaras nos restam
afiveladas num pavor mortal.
Vejamos de entre as mesas como passa
gente inda ateniense. Iluminada
a Acrópole é cenário – nada mais.
(9/10/1972)
Memória de Granada
Pairam repuxos gorgolejam estuques
dourados arrayanes e os leões
tão delicados alvo de ciprestes
Generalife no alto silencioso
– que te pierdas tú y el reino
y que se acabe Granada –
e João da Cruz aqui escreveu Joana
Filipe o Belo a Louca dele os Reis
Católicos de mármore e na cripta em terra
sic transiit gloria mundi. Sacromonte
ciganos de flamengo. Desce o Darro
murado em fundas pedras águas não
mas gatos que os garotos apedrejam.
Serra Nevada ao longe.
Pingo a pingo
goteja da montanha o poeta em sangue
– con qué trabajo tan grande
deja la luz a Granada! –
sobre a cidade moura e hispanamente burra
(Federico dixit e maricón mataram-no).
(8/12/1972)
S’hertogenbosch
Cidade albina a catedral dourados
os capitéis dominicais silentes
ruas. Aqui de Santo Antão os monstros
tentaram e as delícias vícios e pecados
incêndios na distância flores no cu
patas de pato bicos de galinha
as árvores da vida. Bosque
ducal Jerónimo queimaram bispos
os quadros. Dele não resta
traço. O sacristão expulsou-me
da nave cheia de negrumes fiéis.
(8/12/1972)
Anderlecht
Nesta casa de um cónego hóspede peregrino
Erasmo esteve pouco tempo. Mas
não por reconstituída à sua imagem
a imagem se conserva tristemente irónica
do que opôs a loucura e o cavaleiro
cristão além de igrejas e deveres
de crenças pulhas como os homens nelas.
Morreu suspeito a todos. Não aqui.
Os lábios apertados, pega a pena,
e mira dos retratos o seu Deus só alma.
(9/12/1972)
Madrigal de Las Altas Torres
Cresceu aqui Católica Isabel
viveu aqui a amante de Sebastião
um dos falsos melhor que o verdadeiro
morreu aqui Fray Luís de Léon
(“Como íamos dizendo…” – reatou na cátedra
aonde a Inquisição cortara uns anos antes)
as torres altas não existem já
nem madrigais se cantam nestas ruas brancas.
À freira perguntei onde era que a princesa
no convento escondia o amante pressuposto
o rei que se esfumava de Encoberto.
Corou voltou-me as costas – um segredo
ainda hoje ao fim de quatro séculos.
(12/12/1972)
De Glasgow a Londres
Britânicos carneiros se passeiam plácidos
solenes (sobretudo lhes pendendo longo)
por entre o sol nevoento e a neve branca
não derretida por calor que lhes
fez que em casa deixassem o chapéu de coco
e o guarda-chuva quando vieram fora
a pastar pelos moors erva já de verde
que negra se parece como a terra
pisada pelos cascos delicados.
Bosques alheados todos ramo seco
os galhos entrecruzam no cinzento
discretamente vago em claridade
e neve ontem caída. São de Escócia
a terra, a lã, e esta nudez perdida.
(23/2/1973)
Terras de Escócia
Estas gaivotas que da Escócia em terra
brancas os campos sobrevoam pousam
grasnando longe do rolar das ondas
a vida por verdura e sementeiras
como se negros corvos discutiram
de pardo azul estrias céu e mar –
descem redondas se passeiam suaves
pé ante pé como terrestres aves
que pisam não areias mas o campo
e quanto quão de corvos o silêncio escuta
em Escócia o passo dos que reis mataram
furiosos unicórnios violadores
e as mãos lavando a sangue lhas marcaram
de chifre em riste onde as gaivotas vieram
fazer um ninho de esquecidas águas
e brancas fitam seu olhar raiado
nesta paisagem verde que hibernal se apaga.
(Leuchars – Londres, 1/3/1973)
Crepúsculo ao sul de York
Azul pardo e laranja tão de quietas nuvens
de um invisível sol o poente se prolonga.
E ramos ainda inverno as árvores em renques
se escuram lineares escondendo casas
de negras no crepúsculo que paira
como dos campos névoa suspendida.
Enquanto escrevo o alaranjado é rubro,
o pardo se acentua, empalidece o azul,
e a noite se entreafina de esfriar tranquilo.
(1/3/1973)
Paris, um verão
Nas escadas do cais tão gasto e branco
(acima as casas pardas, verdes árvores,
iguais do lado oposto, mas sem cais igual)
me sento à beira-rio. O sol requeima
não a cidade mas quem passa ou fica
como se praia houvesse neste breve espaço
ao pé das águas onde barcos passam
criando brilhos no castanho delas.
Sentei-me, antes direi, à beira-rio.
Um rio estranho, porque é meu homónimo,
e que de tanto vê-lo (e conhecê-lo antigo
antes de havê-lo visto), não devia sê-lo.
Simples e doce este sentar-me aqui,
famílias passam, gente dúbia passa,
ainda há clochards catando-se embebidos
no seu sem tempo, mas hippies também,
também fora do tempo, não catando-se,
que fumam marijuana. O tráfego passando,
e o som de uma cidade são distantes.
Perto de mim, desnuda-se um casal
de jovens que se alonga nos degraus.
E comem-se com os olhos – é possível
que tenham feito amor, mas não se viram nunca
assim ao sol os dois, junto do rio,
e à volta a grã-cidade em que ambos vivem,
e gente que perpassa e nos seus corpos crava
uns olhos de desejo, inveja ou raiva,
ou só saudade de ter sido jovem
num tempo em que tais coisas não havia
como estar quase nu com tudo à volta.
E os corpos mais se gozam de se verem vistos.
(4/12/1975)