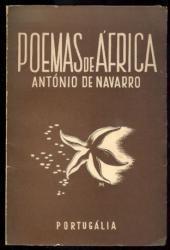Uma Canção de Camões foi a primeira tese escrita por Jorge de Sena sobre o poeta de Os Lusíadas. Redigida no Brasil, em 1962, para um concurso de doutorado que não chegou a se efetivar, o texto precisou aguardar quatro anos para vir à luz, em 1966, quando Sena já havia conquistado o título de doutor com outra tese, O soneto de Camões e o soneto quinhentista peninsular. Nesse meio tempo, o autor teve oportunidade de aprofundar as suas pesquisas e fazer descobertas que foi incluindo no formato de notas finais. Estas, por sinal, abundam no texto que segue, constituindo mais que o dobro do corpo principal. A importância de Uma Canção de Camões, para além da fundamental contribuição ao estudo da lírica camoniana, está na exposição do método crítico-analítico que Sena elaborou para as suas investigações literárias. Com efeito, o primeiro capítulo da tese é uma revisão geral dos diferentes tipos de crítica, que conclui apresentando o modelo que Jorge de Sena aplica tanto nesta quanto nas demais análises que empreende da obra camoniana (e não só). Trata-se, pois, de uma obra crucial para o entendimento do ensaísmo seniano e de sua concepção de literatura e crítica literária. No texto que segue, o autor faz uma recapitulação geral do que se tem de canções atribuídas a Camões, separadas entre canônicas, em disputa e não-canônicas. Ademais, Sena discute os critério utilizados por editores e estudiosos, ao longo do tempo, para incluir ou excluir determinada canção do corpus camoniano. É, então, uma parte significativa da tese, que estabelece a base sobre a qual o autor se debruça para as sas interpretações.
A edição de 1595 – primeira colectânea da obra não-épica de Camões – apresentava ao público dez “canções” do poeta. Fernão Rodrigues Lobo Soropita, poeta por mérito próprio, e prologador da edição cujo privilégio cabia ao mercador de livros Estêvão Lopes, declarava que “os erros que houver nesta impressão não passaram por alto a quem ajudou a copiar este livro; mas achou-se que era menos inconveniente irem assim como se acharam por conferência de alguns livros de mão, onde estas obras andavam espedaçadas, que violar as composições alheias, sem certeza evidente de sua emenda verdadeira”; e apenas, segundo diz, se emendou “aquilo que claramente constou ser vício de pena” [1]. Com esta admirável afirmação de princípios de uma correcta e prudente crítica textual, Soropita igualmente defendia tão transcendente edição das acusações de descuido, ou das suspeitas de excessivo amor pelos alindamentos e clarificações. Em 1598, Estêvão Lopes, usando do seu privilégio, reeditou a colectânea entretanto “gastada”. Para a nova edição não só, como diz, cavou “muitas poesias que o tempo gastara”, mas procurou que “os erros, que na outra por culpa dos originais se cometeram, nesta se emendassem” [2]. Das novas pesquisas, que aumentavam em muito o corpus camoniano, não resultou a aparição de mais nenhuma canção [3]. Da revisão dos “erros” resultaram emendas menores em todas as dez canções já reveladas, um completamento do envoi da canção Manda-me amor que cante docemente, com um dos mais fascinantemente enigmáticos passos da lírica camoniana, e a sensacional inserção, na canção Vinde cá, meu tão certo secretário, de duas novas estrofes tão magnificentes como as que, monumentalmente, compunham já o complexo edifício dessa peça capital. A colectânea de Domingos Fernandes, em 1616, trazia de novo, ao conjunto das canções, Manda-me Amor que cante o que a alma sente, logo dada como variante de Manda-me amor que cante docemente, ainda que “em termos tão diferentes que totalmente é outra” [4], e mais uma canção que tem sido repudiada [5]. As edições seguintes, até à colectânea de 1668, não acrescentaram o número das canções.
Essa nova colectânea, preparada por António Álvares da Cunha, incluía mais quatro canções, três das quais haviam sido publicadas como anónimas na Miscelânea (1629), de Miguel Leitão de Andrade. Dessas três, uma, Quem com sólido intento, é de excepcional categoria. Mas nenhuma das quatro foi incluída na edição nacional de 1932, nem recuperada por editores subsequentes. A edição comentada pelo que será talvez o maior dos críticos camonianos, Manuel de Faria e Sousa, saiu póstuma, em 1685-1688, e revela uma canção mais, de cuja autenticidade o próprio Faria e Sousa não está tão convencido, quanto o está, ainda que relativamente, da das três que Miguel Leitão publicara na sua Miscelânea [6]. É preciso esperar-se pelas investigações do visconde de Juromenha, para a sua edição (1860-69), para que o número das canções seja aumentado, com mais três e uma nova variante da canção Manda-me amor que cante docemente. Dessas três, editores actuais há que aceitam uma [7]. A variante, que o é da versão de 1595-98, e não da de 1616 (o texto desta, com variantes em relação à primeira impressão, está no chamado “Cancioneiro Juromenha”), encontrou-a Juromenha, assim como uma das outras canções, no Cancioneiro de Luís Franco Correia, por este coligido entre 1557 e 1589. Teófilo Braga, na sua edição de 1873-74, coligiu as dezanove canções supra-enumeradas, além das duas variantes da canção conhecida por VII. Em 1880, na outra edição que organizou, Teófilo apresentava, tratando-a logo como “apócrifa”, mais uma. Em 1889, Aníbal Fernandes Tomás, publicava mais outra, encontrada no Cancioneiro que passou a ter o seu nome, e que Carolina Michaëlis teve oportunidade de estudar [8]. Portanto, desde 1595, até 1889, em cerca de três séculos, a obra camoniana no que respeita às canções, duplicou, passando o número destas de 10 a 21, e devendo-se as adições mais substanciais à edição de 1668 (4 canções) e à edição de Juromenha (3 canções), se não contarmos em separado, como não devemos contar, a versão de 1616, da canção VII, e a variante Juromenha da mesma canção.
A edição de 1932, de José Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira, rejeitava drasticamente todas as canções ulteriores a 1595, com excepção de uma das atribuídas por Juromenha e das já referidas versão (1616) e variante Juromenha de Manda-me amo que cante docemente. A edição Hernâni Cidade (1946) repetia este critério selectivo, menos drástico que o da edição Costa Pimpão (1944), em que eram rejeitadas a canção descoberta por Juromenha e a variante Juromenha de Manda-me amor… Portanto, de 1889 a 1946, o número das canções regressou, apenas com uma repetida discrepância, ao ponto de partida: 10. A rejeição das canções condenadas não foi drástica só quanto à autoria: também o foi quanto ao facto de ser dado conhecimento delas, já que, mesmo em apêndice, nenhuma daquelas edições as transcreve. A edição H. Cidade menciona apenas, pelos primeiros versos, oito delas e, ao resumir razões de rejeição, não refere as duas de 1880 e 1889, que, como as outras, “correm ainda atribuídas a Camões” [9]. Devem ter sido as observações hipotéticas de Carolina Michaëlis a causa desse silêncio, embora elas não sejam contrárias à aceitação de autoria camoniana [10].
A situação actual do cânon camoniano, no que respeita ao número de canções é, pois, a seguinte: 10 canções aceitas por todos os editores, desde a 1ª edição da obra lírica até aos nossos dias, 1 canção que editores contemporâneos aceitam ou rejeitam, e 10 canções, publicadas entre 1616 e 1889, que esses mesmos editores unânimemente rejeitam, sem sequer as transcreverem, ainda quando admitem que uma ou outra delas possa ser incipiente e juvenil “ensaio” do poeta [11]. A balança está, pois, equilibrada por um “fiel” apócrifo, entre a autenticidade e a apocrifia. Quanto a esta última, as razões aduzidas para rejeição das 10 canções, digamo-lo francamente, são tão frágeis como as que, em épocas sucessivas, aduzidas foram, às vezes bem pouco convictamente, para apresentá-las e incluí-las. É certo que as 10 canções não afectadas pelas dúvidas eruditas somos forçados a considerá-las a base essencial para a elaboração de uma estrutura canónica da canção camoniana. Mas o facto de outras se afastarem dessa estrutura canónica, que será flutuante e fluida dentro de fixos limites, não exclui, em princípio e só por si, a possibilidade de o poeta ter escrito outras, com diversa estrutura. Seria preciso, para tanto, e não havendo razões expressas e convincentes de crítica externa, que um inventário totalizador do vocabulário camoniano, da frequência dos vocábulos e da conexão destes e da sua frequência com os diversos géneros e formas, etc., nos permitisse algumas conclusões positivas. Estas, porém, não seriam, por sua vez, tão concludentes assim, caso não fossem elucidadas por análogos inventários dos sintagmas, de expressões tópicas, de configurações ideológicas. Metodologicamente, nada há pior do que a aplicação de crítica externa a conclusões de crítica interna, e vice-versa. É curioso exemplo disso o caso da canção atribuída a Camões no Cancioneiro Fernandes Tomás, ao ser posta em dúvida por Carolina Michaëlis tal atribuição. A romanista germânico-lusa, apontando que a canção é “tradução livre ou adaptação da ode de Horácio, Non ebur neque aureum (II, 18)”, sugere outras possíveis autorias: Jorge Fernandes, o Fradinho da Rainha, de quem ela publicara uma composição igualmente horaciana, ou André Falcão de Resende, de quem se conhece um volume de traduções livres das odes de Horácio [12]. É evidente a sobreposição dos critérios, levando a conclusões necessariamente extrapoladas, visto que a imitação de Horácio não seria apanágio daqueles dois poetas, nem estaria, como exemplos o provam (a romanista, ela própria, os aponta), vedada a Camões.
Em matéria de crítica externa, devemos acentuar que nenhum dos textos das 11 canções postas em dúvida é ulterior ao final do século XVII, isto é, a mais de um século sobre a publicação da edição de 1595. Com efeito, das cinco canções apresentadas na segunda metade do século XIX, quando o 3º centenário da data provável da morte do Poeta intensificou o interesse pela sua obra, uma está no mais antigo manuscrito com textos de Camões (Cancioneiro de Luís Franco), e que nos chegou na íntegra [13]; outra é-lhe atribuída no Cancioneiro Fernandes Tomás ou Flores Várias de Diversos Autores Lusitanos, que Carolina Michaëlis não considera ulterior a meados do século XVII [14]; outra deu-a Teófilo Braga como existente num manuscrito apenso a um livro impresso em 1586 [15]; outra publicou-a Juromenha, diz ele, de um manuscrito do século XVII; e outra ainda, também publicada por Juromenha, “de um manuscrito” não identificado, nem datado ao menos quanto ao século (sendo, porém, de crer, pelo estilo do benemérito visconde, que o manuscrito será também do século XVII), é precisamente aquele que duas das três edições modernas não repudiam… [16].
Ainda na mesma questão de atribuições, vejamos a situação das seis canções aparecidas no século XVII. Nenhuma delas, com excepção das três que haviam sido inseridas, anteriormente à inclusão numa edição de Camões, na Miscelânea de Miguel Leitão de Andrade, teve outra atribuição [17] além da que, com maior ou menor convicção (mesmo por parte de Faria e Sousa), foi feita a Camões. Essas três, se não são dele, são anónimas, ou Miguel Leitão de Andrade é um grande poeta que, como diz Faria e Sousa, “imitava-le muy bien” [18]… As outras três, respectivamente atribuídas por Domingos Fernandes, Álvares da Cunha e Faria e Sousa, tem sido alegado o seu afastamento do cânon estrutural das 10 canções princeps para as duas primeiras, e a própria incerteza de Faria e Sousa para a terceira. Mas a verdadeira razão é a de que não enriquecem, pela sua “mediania”, a obra camoniana, na qual é aceita sem discussão tanta mediania, e até mediocridade, em forma de redondilha ou de soneto.
Resumindo este rápido escorço histórico do corpus existente quanto às canções camonianas, reconheçamos os seguintes factos:
1º Dez canções gozam do prestígio de figurarem na edição princeps da obra não-épica de Camões; de nunca a sua autenticidade ter sido contestada, nem haver elementos de crítica externa que permitam lançar dúvidas sobre a autenticidade de quase todas; e, ainda, de entre elas se contarem algumas das mais imponentes peças do lirismo camoniano.
2º De uma dessas dez canções existem uma variante e uma outra versão que oferecem alterações profundas do texto.
3º Onze canções, atribuídas em datas diversas e ulteriores à da primeira edição, se bem que contidas em manuscritos supostamente não posteriores a um século após a data daquela edição, não têm merecido a mesma confiança que, indubitavelmente, as outras merecerão em face dos elementos disponíveis.
4º As dez canções universalmente aceitas, no tempo e nos editores, constituem a base para o estabelecimento de um cânon estrutural das canções camonianas; esse cânon, porém, terá de ser estabelecido em função das características formais externas, antes de mais, a fim de se avaliar do tipo de estrofe mais usado, e da sua originalidade, e não apenas pelas semelhanças aparentes (ou tradicionalmente aceitas) com supostos modelos.
5º Esse cânon, só por si, não será suficiente para afastar o grupo das outras onze, que deve ser estudado não só individualmente, canção por canção, mas colectivamente também, visto poder revelar características peculiares, assimiláveis a aspectos do primeiro grupo.
6º As dez canções, mais as duas redacções (variante e versão) de uma delas, e as onze canções “apócrifas” constituem, com todas as reservas que possam ser opostas, um corpus camoniano, cujo estudo terá de ser refeito em novas bases, e não se perdendo de vista a possibilidade de reverem-se as justificações em que a crítica externa extrapolou, ou a crítica interna não se fundamentou suficientemente em mais que um impressionismo de “influências”, ou num critério de qualidades excelsas, nunca válido por si em crítica de textos.
Tudo isto, é claro, e sobretudo os inventários e as frequências acima referidos, não depende apenas do número das canções, mas do texto delas. Este não tem sofrido menos vicissitudes, mesmo se estas últimas são menos evidentes. Há pequenas variantes, de um modo geral, em todas elas, conforme as edições, e Faria e Sousa tem sido até, no direito consuetudinário dos estudos camonianos, o símbolo das beneficiações feitas por amor excessivo de um texto que se quer tão perfeito e correcto quanto possível. Mas nem sempre as beneficiações foram as únicas culpadas das imprecisões e inseguranças do texto, no que se refere à legitimidade das emendas ou alterações. Muitas vezes, foi a crítica externa, com as suas preferências, quem impôs, aqui ou ali, esta ou aquela lição, conforme a confiança atribuída ao editor cuja lição se escolhia.
Acontece, porém, que um texto literário é, mesmo no espírito do seu criador, um organismo vivo, cuja clarificação se processa no tempo. Esta clarificação não é de regra que, naquele espírito, se processe segundo os mesmos cânones de aperfeiçoamento parcelar da expressão, ou de acerto gramatical e lógico das frases, que se exigem de uma composição escolar. A mudança de um vocábulo por outro pode ter obedecido a multímodas razões, às vezes subconscientes, de preferência ou de repulsa, de revelação ou de ocultação ambígua do sentido. Pelo que não se pode supor, a priori, que seja preferível o mais claro ou correcto, mas sim aquele que, num contexto, revela nexo de equilíbrio, no seio de todo um comprometimento espiritual, como é uma obra lírica de alta qualidade. E o contrário é que, em geral, tem sido praticado, na colação das variantes camonianas [19].
Mais insignificante, no consenso geral, é o problema da pontuação. Sabe-se que, independentemente de as regras de pontuação não terem sido sempre as mesmas que o uso e as necessidades da clareza lógica foram consagrando, a pontuação de um texto literário é subtil e pessoalíssimo equilíbrio entre, em certa época, aquelas regras às vezes não rigidamente codificadas e as exigências da dicção e do ritmo. Um texto poético, pelas suas características de raciocínio analógico, de condensação simbólica, de notação impressionista, de discursivismo ritmado pela emoção ou pelo fingimento dela, mais que qualquer outro texto literário não é um discurso jurídico, mas uma fixação da ambiguidade fundamental das equivalências emotivas. Sendo assim, a pontuação representa, sobretudo, as pausas do ritmo do pensamento poético, segundo o qual este, ora suspendendo-se, ora fluindo, constitui largas utilidades sintagmáticas dotadas de um valor próprio que excede, em capacidade de sentido, aquele estrito que a análise lógica lhes atribuiria [20]. No nosso tempo, após os estudos de Richards ou de Spitzer, e após a revolução expressiva do Modernismo, não temos, da lógica discursiva e da correcção unívoca dos nexos gramaticais, o mesmo conceito que o século XIX alimentou e impôs aos textos antigos, extrapolando para a filologia das línguas modernas o critério idealístico de reconstituição de textos, aplicado às línguas clássicas. De modo que, inteiramente despidos de preocupações que o século XVII, tão agudamente inteligente das subtilezas do sentido, não teve [21], não devemos considerar a pontuação como acessório da forma externa, mas como ingrediente da forma interna, e apenas corrigi-la (dando sempre o estado do original) onde e quando ela seja manifestamente “vício de pena”, e não vício da correcção gramatical, humildemente certos de que esta é criada paralelamente pelo povo e pelos poetas como Camões, para os quais sempre
There are more things in heaven and Earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy [22].
NOTAS
1 “Prólogo ao leitor” de “RHYTMAS”, de Luís de Camões (…) impressas (…) em Lisboa, por Manuel de Lyra, ano de 1595, à custa de Estêvão Lopes, mercador de livros”.
2 Estêvão Lopes, no prólogo de “Rimas de Luís de Camões, acrescentadas nesta segunda impressão, impressas (…) em Lisboa, por Pedro Crasbeeck, ano de 1598, à custa de Estêvão Lopes, mercador de livros”. Note-se que o prólogo crítico (anónimo na primeira edição) não foi reimpresso nesta, e reapareceu, já então com assinatura de Soropita, na colectânea de 1616, sendo a assinatura “autenticada” por Domingos Fernandes, no seu pessoal “Prólogo ao leitor”.
3 Com a ressalva, é claro, da ampliação do commiato da canção Manda-me amor… e das duas novas estrofes intercaladas na canção Vinde cá…
4 Em epígrafe ao texto, em “Rimas, segunda parte, (…), Lisboa, por Pedro Crasbeeck, ano de 1616, à custa de Domingos Fernandes”.
5 Nem roxa flor de Abril, que foi publicada em 1616, sem commiato. Na reedição da Segunda Parte das Rimas, 1666, revistas por João Franco Barreto, continua sem o commiato. Na Terceira Parte das Rimas, 1668, foi reimpressa com variantes e o commiato que, daí em diante, lhe ficou. É também nesta edição que aparece encabeçada pelos seguintes dizeres explicativos: “Celebra-se uma rara formosura natural sem enfeite algum, e em cada ramo pondera uma parte sua, dizendo que com ela podia render um Planeta”.
6 Adiante, em nota, se transcrevem os considerandos de Faria e Sousa. Quanto à “canção” A vida já passei assaz contente, que foi ulteriormente extraída da edição de Faria e Sousa para as edições da lírica camoniana, sendo, por isso, o pobre Faria acusado de ter inventado mais essa atribuição, é muito importante revelar que Faria e Sousa não a inclui entre as canções de Camões ou a este atribuídas, como uma canção mais, mas sim a dá em nota à estrofe 27 da Écloga I, ou, mais exatamente, ao último verso dessa estrofe: “se muda o feminino pensamento” (tomo V, pp. 184-185). E informa o seguinte: “…en el último manuscrito que vi está una canción con este título: A la muerte de Don Antonio de Noronha, y fíngese que lá escrivó una Señora. (…) La canción está escrita con mucha limpieza. Pero el estilo no es de mi poeta ni pudo conocer de quien sea. (…) Si mi Poeta la hizo, disfraçó el estilo, por ventura, para que pareciesse que la avia escrito Doña Margarita”. É nestes comentários do desprezado Faria e Sousa que se encontra a fonte da interpretação que Storck deu da Écloga I, ligando a morte de D. Antonio de Noronha (de que a écloga é epicedicamente o lamento) e a paixão não correspondida que este fidalgo teve pela D. Margarida, que logo casou – diz Faria que por ser filha obediente, e não por não estar dorida de não ter correspondido ao defunto – com D. João da Silva (Portalegre). É de notar que Álvares da Cunha, cujas quatro canções são precisamente as que Faria e Sousa dá, no seu original, como inéditos novamente revelados, não publicou A vida já passei assaz contente, como afinal também Faria e Sousa não a “publicava”. Os editores seguintes, porém, procederam de outro modo, e Storck, na sua tradução, como eles, o que Carolina Michaëlis não deixou escapar (Cf. Zeitschriften für romanische Philologie, vol. 7, 1883, p. 153).
7 Com, por exemplo, este estranho argumento em crítica de textos: ter “a seu favor este selo camoniano – a beleza e a graça”, Hernâni Cidade, ed. cit., na nota 9, p. 373. Dir-se-ia que estas duas características, juntas, são critério definitivo quanto à autenticidade de um texto camoniano. E, segundo o mesmo critério, não se vê por que razão a profundidade do pensamento e a linguagem típica, mais impressionisticamente verificáveis e camonianas, não arrancam a Miguel Leitão de Andrade a hipotética autoria da canção Quem com sólido intento…
8 O texto de Não de cores fingidas apareceu pela primeira vez, e como inédito de Camões, no nº 5, Outubro de 1889, da revista Círculo Camoniano, dirigida por Joaquim de Araújo, Fernandes Tomás, que apresentava o poema, fazia-o preceder do soneto Olhos de cristal puro que vertendo, que, no manuscrito que ele descobrira, está, a fl. 150 vº, atribuído a Camões, e entre dois sonetos que igualmente aí lhe são atribuídos, o primeiro também “inédito” (e que, apesar de igualmente Carolina Michaëlis no seu estudo sobre esse cancioneiro nada ter contra ele, não passou ainda às edições de Camões, como nenhum dos outros nas mesmas condições), e o segundo publicado por Faria e Sousa na sua edição das rimas, e que o índice de Pedro Ribeiro atribui a Diogo Bernardes.
9 Luís de Camões, Obras Completas, Clássicos Sá da Costa, Lisboa, 1946, vol. III, pp. 374 e 375.
10 Feitas, por exemplo, em O Cancioneiro Fernandes Tomás, Coimbra, 1922.
11 É o caso de H. Cidade, na edição citada. Não fazemos especial referência, no texto, à edição Aguilar da Obra Completa, de Camões, organizada por Salgado Júnior, e publicada em 1963, porque, em matéria de autorias ou não autorias, não obedece a qualquer critério, mas a todos… António Salgado Júnior inclui, é claro, as dez canções canônicas, mais os dois textos (1616 e Juromenha) de Manda-me Amor, etc.; mas inclui igualmente as apócrifas Porque a vossa beleza, etc., Nem roxa flor de Abril e Por meio dumas serras mui fragosas. O critério de inclusão é perfeitamente absurdo e aleatório, não só porque em nada se distingue das arbitrariedades dos editores anteriores, como porque é, declaradamente, somatório delas. A razão pela qual aparecem, na edição, os textos de Nem roxa flor de Abril e Por meio dumas serras mui fragosas não resulta de investigações ulteriores. Apenas, na edição, foi incluído tudo o que qualquer dos editores “modernos” (e por que não os “antigos”?…) alguma vez incluiu, ainda que houvesse exclusão por parte de outros. E, como para a comparação “autoral”, Salgado Júnior considerou também a velha Antologia Portuguesa – Camões Lírico, vol. V, Lisboa, 1935 (a publicação desta antologia da lírica de Camões vinha fazendo-se, na colecção, desde 1923), organizada por Agostinho de Campos, e como este inclui aquelas duas canções apócrifas (apesar de apenas em apêndice, uma porque é “curiosa”, a outra porque “se ajusta biograficamente – em quê? perguntaremos – à autoria, pelo menos segundo a chave histórica encontrada” por José Maria Rodrigues…), incluiu-as também. Nada disto, como se está vendo, tem que ver com crítica de qualquer espécie, e foi o que minuciosamente demonstrámos em O Camões da Aguilar, série de cinco artigos sucessivos de análise dos diversos aspectos daquela infeliz edição, que apareceram no suplemento literário de O Estado de S. Paulo, de 25 de Janeiro a 22 de Fevereiro de 1964, e que, revistos e ampliados, estão no prelo no nosso volume Estudos Camonianos, etc. [ver Trinta Anos de Camões, 2 vols. Lisboa, 1980]
12 Ob. Cit., pp. 85 e 86.
13 O Cancioneiro do Padre Pedro Ribeiro, provavelmente de 1577, dele só resta o índice. A canção é Crecendo vai meu mal de hora em hora, que está a fls. 132 e seguintes do Ms. Luís Franco, depois do soneto então inédito, O dia que nasci moura e pereça, uma das mais extraordinárias das composições atribuídas a Camões, e aceito pelos editores mais recentes. Note-se que não é verdade o que, deste soneto, diz Carolina Michaëlis, para defender-lhe a autoria sedutoramente camoniana. Ele não está, naquele Ms., entre dois sonetos da edição de 1598. Está, sim, em último lugar, depois de uma série de 45 sonetos sem indicação de autoria, dos quais, dispersamente, três dúzias têm sido indiscutíveis na autoria camoniana: 22 de 1595, 10 de 1598, 1 de 1616, 2 de 1668 (diga-se de passagem que é o facto de figurarem, sem indicação de autoria, nesta misturada de sonetos, o que tem garantido a permanência, no cânone camoniano, destes dois últimos…). Juromenha, ao transcrever para a sua edição o texto da supracitada canção, procedeu a uma falsificação consciente. O vocativo que ele põe no texto – “Senhora” –, e que Teófilo Braga aceitou nas suas edições, não é o que figura no original apógrafo ou apócrifo: “Pastora”. É evidente que foi a estrutura de canção o que terá sugerido a mudança, para tirar ao texto o carácter pastoril, e também o critério muito oitocentista de atribuir-se a erro de cópia – “corrigido” sem aviso aos incautos… – o que nos parece inconforme com a nossa interpretação. O contrário também se verificava: Storck, por exemplo, tão germanicamente fero com as “falsificações” de Faria e Sousa, as “ingenuidades” de Juromenha e as “leviandades” de Teófilo, não menos baseou o seu estudo e as suas traduções nas lições do mesmo Teófilo, e não menos aceitou composições duvidosas que podiam (?) ser integradas no seu esquema biográfico. E a férula de Carolina Michaëlis, nas suas notas à tradução que fez da biografia, quase sempre arranja maneira de desculpá-lo.
14 Não de cores fingidas figurará a fl. 52 do códice, entre uma canção de Elói de Sá Sottomaior e um soneto de Fernão Correia de Lacerda, ou a eles atribuídos, já que as atribuições daquelas Flores várias não são de inteira confiança (a menos que se aceite sem discussão a derrocada de algumas atribuições camonianas tradicionalmente incontestadas), e que não pode recorrer-se ao critério dos grupos de autoria provável, uma vez que, naquele manuscrito, as composições atribuídas aos diversos autores estão todas misturadas sem qualquer arremedo de agrupamento.
15 O Rosian de Castilla de Joachin Romero de Cepeda, cujo título completo é La hystoria de Rosian de Castilla que trata de las grandes aventuras que en diversas partes del mundo le acontecieron, traducida de latin, existe, e foi efectivamente impresso em Lisboa, por Marcos Borges, em 1586. A obra é mencionada no Catálogo, 1899?, do marquês de Jerez de los Caballeros, e por Rodríguez-Monino (Curiosidades bibliográficas, Madrid, 1946), segundo informa a magnífica obra Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America – a listing by Clara Louisa Penney – New York, 1965, que só nos foi possível consultar já depois de impresso o texto do presente volume. O frontispício do precioso exemplar que pertence àquela ilustre sociedade é reproduzido a pp. 441 de A History of the Hispanic Society of America | Museum and Library | 1904-1954 | with a survey of the collections, by members of the Staff, New York, 1954. Na biblioteca daquela sociedade, Romero de Cepeda ainda figura, além das suas Obras, Sevilha, 1582, e de uma “antigua memorable y sangrienta destrucion de Troya”, impressa em Toledo, em 1583, com um folheto (por cópia) de interesse português: Famosíssimos Romances: el primero trata de la venida a Castilla del señor don Sebastian, rey de Portugal; el segundo y tercero tratã de la solennidad cõ q fue recebido a la puerta de sancta Marina (s/l, s/d – 1576-77?).
Por gentil informação de Clara L. Penney, que é “Curator of Manuscripts and Rare Books” da HSA, foi-nos possível em tempo saber que Rodríguez-Moñino, nas suas Curiosidades, estuda o livro em causa, num artigo chamado Un libro español perdido em Lisboa y hallado en New York (pp. 5-16); e que o manuscrito encadernado no fim do volume será descrito por aquele professor e por Maria Brey, como o nº X do Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic Society of America (siglos XV, XVI, y XVII), que está prestes a ser publicado. O exemplar do Rosian de Castilla, pertencente à HSA, é, pois, o mesmo que foi da biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, e cujo apenso manuscrito Teófilo Braga usou. Deste ms. nos ocuparemos devidamente, após a publicação da obra de R. Monino e M. Brey.
16 São as canções Bem-aventurado aquele que ausente e Porque a vossa beleza a si se vença, que, segundo o índice publicado por Carolina Michaëlis (Mitteilungen aus portugiesiche Handschriften – I – Der Cancioneiro Juromenha, Leipzig, 1880), não figuram neste cancioneiro, que eram dois manuscritos encadernados juntos: o primeiro, contendo poesias de Camões, Bernardes, Caminha, Manuel de Portugal, Jorge Fernandes (Frei Paulo da Cruz), etc., e o segundo, de letra diferente, contendo poesias de Sá de Miranda, ou supostas del. Na sua edição deste poeta, Halle, 1885, Carolina Michaëlis serviu-se também desse segundo dos manuscritos que constituíam o Cancioneiro Juromenha. Nas notas à primeira daquelas duas canções, Juromenha chama a atenção para uma “canção ou ode” de Fernão Álvares do Oriente (1540-1595), “que trás versos inteiros de Camões e alguns lugares desta canção” (vol. II da edição Juromenha, p. 527). A obra de Fernão Álvares que ele quer referir – chama-lhe “edição de 1607” – deve ser a póstuma primeira edição da Lusitânia Transformada. Das três canções que dessa obra cita Costa e Silva (Ensaio, tomo IV, livro VII, cap. II) nenhuma nos pareceu incluir-se nas analogias apontadas por Juromenha; e o exame da obra não nos revelou o que Juromenha alega.
17 Logo no “Prólogo aos leitores benévolos”, e após citar – inserindo-o sem menção de autoria própria ou alheia (como aliás faz quase integralmente para os numerosos poemas inseridos na obra) – o célebre soneto Quando os olhos ponho no passado (que termina com o esplêndido verso “Triste o que espera, triste o que confia”), Leitão de Andrade diz o seguinte: “Bem estou vendo que muitos me hão-de notar, por verem neste livro (a que me pareceu chamar Miscelânea ou salada, pela diversidade de cousas que nele vão misturadas) algumas que lhe parecerão alheias, e ditos também alheios; a quem se responde que me mostrem um só livro de quantos até hoje são escritos que não tenha cousas alheias, e antes algumas inteiramente trasladadas”. A explicação e a defesa (de mau pagador) são suficientemente claras, para ficarmos sabendo que, na sua grande maioria, os poemas inseridos não serão de Leitão de Andrade, e que alguns deles eram suficientemente conhecidos – ainda que não publicados em livro – para a explicação e a defesa serem necessárias. Aquele supracitado soneto, Álvares da Cunha não o incluiu na sua parte de Camões (1668), embora tenha incluído as canções em causa; foi na edição de Faria e Sousa (postumamente publicada e não completada, em 1685-1688) que o soneto apareceu dado a Camões, e o próprio Faria declara que o viu atribuído a D. Francisco de Portugal (1585-1632), o dos Divinos e Humanos Versos (1652) e da Arte de Galantaria (1670), e descendente do homónimo do Cancioneiro Geral e das Sentenças. Há variantes não muito extensas entre o texto da Miscelânea e o da edição de Faria e Sousa, que nos parecem beneficiações introduzidas por este último. Não é verdade, como tem sido dito (por exemplo, por Teófilo Braga, Camões e o Sentimento Nacional, Porto, 1891), que o soneto seja uma tradução de Garcilaso de la Veja. Se apontamos o caso deste soneto, precisamente pela inserção do qual Leitão de Andrade sentiu a necessidade das justificações preliminares, foi para dar um exemplo dos critérios dúplices a que têm sido submetidas as atribuições camonianas. De textos que haviam sido inseridos na Miscelânea, Álvares da Cunha deu autoria camoniana a cinco sonetos e às três canções em pauta. Na edição de Faria e Sousa, há mais um soneto da Miscelânea, que é o referido aqui. Se este soneto que o próprio Faria e Sousa diz ter visto como de D. Francisco é de autor incerto (e, quando na incerteza entrava Camões, Faria e Sousa fazia-lhe atribuição duvidosa), não se vê como, pelo critério oposto ao de Faria e Sousa, possam ser igualmente “incertos”, externamente, os outros poemas que Álvares da Cunha publicou, já que não têm mais atribuições conhecidas (salvo um dos sonetos que é Sousa quem diz que o viu em nome do marquês de Alenquer). E muito menos se vê como três dos seus sonetos comuns à Miscelânea e à edição Álvares da Cunha passaram à edição de 1932 e à edição Hernâni Cidade, quando as canções e os outros sonetos eram excluídos… Costa Pimpão, na sua edição, Barcelos, 1944, exclui tudo o que, em Álvares da Cunha, aparece com lição igual à de Faria e Sousa, por considerar que, nestes casos, Cunha se servia dos papéis de Faria, que não lhe merecem confiança. Mas, então, igualmente não se entende porque, dos sonetos com lição independente nas duas edições, Pimpão repele dois dos dez que a edição de 1932 havia incluído, e inclui sete que ela não havia aceitado, enquanto Hernâni Cidade, destes sete, apenas inclui cinco… No caso de Faria e Sousa, que tão honestamente aponta atribuições várias a outros autores (que podia ter ocultado, e que nunca ninguém mais encontrou), ainda há que distinguir entre o problema das atribuições camonianas e o problema da revisão dos textos. Na verdade, Faria e Sousa “corrigiu” também o que já estava anteriormente publicado; mas isto não impede que, com reservas quanto à autenticidade das lições (e quanto às atribuições, quando insuficientemente justificadas pelos critérios actuais), aceitemos em princípio as atribuições que a erudição e a crítica interna não desmintam cabalmente. É pena que não tenhamos outros textos; mas, corrigidos por Faria e Sousa, não serão menos de Camões que corrigidos por outro qualquer editor moderno… Isto não é considerar Faria e Sousa infalível ou impecável; mas é não reconhecer que outros, em vez dele, o seja, sem melhores provas. É de notar que a Miscelânea, de Leitão de Andrade, não contando os poemas votivos ou as dedicatórias prologais em verso, contém uma centena de poemas vários: 44 sonetos, 9 canções ou odes, 2 composições em terza rima, 1 em oitavas, 3 poemas “arcaicos”, 8 “romances”, mais de 30 composições em redondilhas várias. Desta centena de poemas, Leitão declara expressamente da autoria de outros (que nomeia ou não) apenas 6; mas declara expressamente seus (ou do contexto se pode deduzir que o são) apenas uns 12. Os restantes, cerca de 80, estão mais ou menos habilmente inseridos no texto miscelânico, ou na novela pastoril-cavalheiresca que está dispersa ao longo dele. Dos 44 sonetos (e não contando uma versão castelhana do celebrado soneto Se grande glória, etc., atribuído a todo o mundo), só 7 passaram às obras de Camões (6 em 1668 e 1 na edição de Faria e Sousa); e, da dezena de canções ou odes, só 3 (em 1668). E, se o critério “extractivo”, em relação a Camões, tivesse sido apenas a “qualidade”, muitos outros poemas poderiam Álvares da Cunha e Faria e Sousa ter forrageado na Miscelânea, para aumentarem o corpus camoniano, a menos que só daqueles poemas não houvesse, que eles conhecessem, claras atribuições diversas. E, com efeito, para os 8 sonetos e as 3 canções em causa, não se conhecem ainda hoje outras atribuições, a não ser para 2 dos sonetos (e é o próprio Faria e Sousa quem as revela, tendo resolvido em favor de Camões o benefício da dúvida). As autorias e publicações de muitos dos sonetos inseridos na Miscelânea foram estudadas por Carolina Michaëlis, na sua já citada Investigação. Já em 1883, C. M. (ZRPh, vol. 7, pp. 151 e 152), ao discutir a edição (traduzida) de Storck, comentara de passagem o caso da Miscelânea, cujas três canções comuns a Faria e Sousa e a Álvares da Cunha o erudito alemão aceitara também, embora com reservas quanto a O pomar venturoso. A discussão de C. M., se envolve implicitamente as três canções, convém acentuar que se refere apenas àquela, sem que as outras duas sejam sequer estudadas. E é tudo, aí, quanto a elas.
18 Das três canções em conjunto, o que Faria e Sousa diz, diversamente do que tem sido deturpadamente citado, é (tomo III, p. 99): “Desta canción (O pomar venturoso), y de las dós que se siguen, digo que em mis manuscritos están entre vários poemas de Camoens, mas no que tengam por encima su nombre, como no le tienem otros que conocidamente son suyos, aunque otros lo tengan”. E seguidamente chama a atenção para os erros de cópia e de impressão, de que os três textos haviam sido vítimas na Miscelânea, e que, independentemente de beneficiações ulteriores que os textos tenham sofrido, são na verdade clamorosos. Na edição de Álvares da Cunha, em que, antes de publicada a edição de Faria e Sousa (cujos originais o Cunha terá compulsado), as três canções foram atribuídas a Camões, elas vêm precedidas desta nota (Terceira parte das Rimas, 1668, p. 79): “As três canções seguintes andam, com muitos erros, impressas na Miscelânea de Miguel Leitão, é certo serem de Luís de Camões, como se colhe de alguns manuscritos, a quem seguimos, e com quem as emendámos”. Observe-se que há entre esta nota de Álvares da Cunha e o que Faria e Sousa, pelos azares da obra póstuma, veio a dizer vinte anos depois (porque o tomo III é de 1688) muita coincidência. Mas, se muitos poemas acrescentados por Álvares da Cunha e por Faria e Sousa apareceram com outras atribuições, a verdade é que, para muitos outros, a atribuição que eles deram, ou não é desmentida por qualquer manuscrito ou volume conhecido, ou é confirmada por Luís Franco, por Pedro Ribeiro, ou pelo Cancioneiro Fernandes Tomás. Da canção Quem com sólido intento, diz Faria e Sousa que ela é muito próxima imitação de uma canção do italiano Luigi Groto, já que alguns passos são quase tradução. Alarga-se em considerações sobre qual dos dois poetas – o presumível Camões ou Groto – podia ter lido o outro. E afirma que tal canção, em português, naquele tempo, só podia ter sido escrita por Camões, por Soropita (que escreve Surrupita); e por Martim de Crasto ou por Manuel Soares de Albergaria (III, p. 103). Para a canção Por meio de umas serras, etc., diz (III, p. 111) que o seu estilo é de Camões, e que a existência, nela, de versos de 3 sílabas (4 para ele) tinha antecedentes ou contemporaneidade em Gil Polo (duas canções insertas na sua continuação da Diana), o que é verdade mas com quatro sílabas de hoje, e em Lopez Maldonado (com 4 sílabas pela contagem antiga), o que não pudemos verificar. Adiante, ao estudarmos detalhadamente a forma externa desta canção apócrifa, nos ocuparemos das suas analogias com aquelas duas de Gil Polo.
Os poemas de Luigi Groto foram publicados em volume – o que Faria e Sousa não ignora – em 1577. A hipótese de que o presumível Camões autor conhecesse Groto (poeta italiano uns quinze anos mais novo, e tardiamente recompilado, sobretudo para a vida de um Camões ausente da Europa) em manuscritos parece frágil, a menos que pudesse tê-lo encontrado em qualquer compilação impressa – desconhecida ou não relevada pela erudição –, das muitas que, nessa época, os prelos italianos lançaram. E dificilmente Camões, mesmo nesta outra hipótese, poderia tê-lo conhecido antes de 1570, o que tornaria a canção “apócrifa” uma composição muito tardia. Mas, quanto às analogias que Faria e Sousa encontra e não pudemos conferir, poderia acontecer que tanto Groto, como o Camões apócrifo, tivessem, para a imitação, uma fonte comum que escapou – o que, concordemos, era muito improvável… – à informação de Faria e Sousa.
O caso das analogias de forma externa entre a “apócrifa” Por meio de umas serras, etc. (e também a sua análoga, publicada por Juromenha), e canções de Gil Polo e de Gabriel Lopez Maldonado (poeta cujas datas de nascimento e morte se desconhecem, mas que ainda vivia em 1615, quando foi publicado um seu opúsculo sobre acontecimento ocorrido nesse mesmo ano), podemos analisá-lo – antes de exame comparativo – à luz da cronologia. Maldonado fez parte do grupo madrileno de poetas constituído pelo autor da Araucana, Alonso de Ercilla (1533-1594), por Pedro de Padilha (?-1595), Cervantes (1547-1616), Galvez de Montalvo (1549-1591?) e Vicente Espinel (1550-1624), músico e autor do Marcos de Obregon. É de crer que Maldonado, tendo morrido depois de 1615, não seja muito mais velho que Cervantes ou Espinel, já que, entre o mais velho e mais moço deste grupo há dezassete anos de diferença no nascimento e trinta na morte (não tendo Espinel vivido pouco). Terá nascido por volta de 1540. A compilação dos seus poemas, Cancionero, apareceu em 1586. El Pastor de Filida, de Montalvo, em que se continua a maneira romanesco-pastoril de Montemor e de Polo, é de 1582 (a obra teve reedição em Lisboa, 1589). As Rimas de Espinel são de 1591. A primeira parte da Araucana era de 1569; mas a segunda parte apareceu em 1578. O Tesoro de Padilha é de 1575. A Diana Enamorada de Polo é de 1564. Todo este movimento – se assim se pode chamar –, e em que, para canções italianizantes, há as duas canções extravagantes de Polo, cujo esquema Maldonado imita (ou é Polo quem imita de Maldonado), se desenvolve, portanto, depois de 1564, tendo o seu ácume na década de 80. É difícil aceitar que, a menos que por desfastio de poeta mais que maduro e cansado, Camões tivesse experimentado, após Polo e Maldonado, esquema que implicava uma composição de índole ligeira e galante, como aliás são de certo modo ambas as “apócrifas”. A não ser que – e, no plano das hipóteses, tudo até certo ponto é possível – não fossem composições tão tardias, mas resultado, num Polo e no presumível Camões, da experimentação de um mesmo esquema ignorado por nós e que o próprio Polo chamava “provençal”. A este respeito, note-se que um dos mais prestigiosos dos provençais, Arnaut Daniel (o único provençal citado, um século antes, pelo marquês de Santillana), usou habilmente de metros curtíssimos, nas suas canções; e que, pela mesma época da Diana Enamorada de Gil Polo, a poesia medieval, e em especial a provençal, era valorizada em França, pelo humanista Étienne Pasquier (1529-1615), cujo livro I das Recherches de la France é publicado em 1560. (Cf. V. L. Saulnier, La littérature française de la Renaissance, Paris, 1957).
A propósito da Araucana, e a título de curiosidade, note-se que A. J. Anselmo menciona uma edição lisboeta da 1ª parte, de 1582, e uma da 2ª parte, com data de 1569 (do mesmo impressor António Ribeiro, que trabalhou entre 1574 e 1590), que ele acha errada, “sem dúvida do mesmo ano ou pouco posterior à 1ª” (p. 277). Ora a edição lisboeta da 2ª parte teria de ser posterior à primeira edição dela (1578), já que não há notícias de, nem é possível segundo os estudos ercillianos, uma 1ª edição lisboeta anterior. Nada impede, porém, que o único erro seja, nessa edição lisboeta, 69 por 79 (MDLXIX por MDLXXIX), e que a edição lisboeta, da 1ª parte seja ulterior à edição lisboeta da 2ª parte. Na vida editorial quinhentista, e com o internacionalismo peninsular do trabalho dos impressores, seria perfeitamente normal que isso acontecesse.
19 Veja-se o que diz Rodrigues Lapa, em Líricas de Camões, Textos Literários, “Seara Nova”, 2ª ed., Lisboa, 1945, p. XVI, mais adiante citado.
20 As mais recentes considerações sobre o problema da pontuação nos autores do século XVI, e sua relação com a tipografia, devem ser as de Rudolph E. Habenicht, na introdução à sua edição diplomática e crítica de A Dialogue of Proverbs, de John Heywood (University of California Press, Berkeley, 1963, pp. 86-89), chegada às nossas mãos muito depois da redacção deste estudo. Esta obra de Heywood (1497-1580), um dos grandes precursores da Época Isabelina, foi primeiro impressa em 1546 e teve ao longo do século uma enorme popularidade. Diga-se de passagem – e em reserva de um estudo a fazer – que esse “diálogo” é do maior interesse comparativo para o estudo de obras importantes da literatura e da cultura portuguesas dos séculos XVI e XVII, como a série de tratados sobre o matrimónio (O Casamento Perfeito, de Diogo de Paiva de Andrada, O Espelho de Casados, do Dr. João de Barros, a Carta de Guia de Casados, de Francisco Manuel de Melo, etc.), o teatro para leitura ou novela dialogada (como Eufrósina, de Jorge Ferreira de Vasconcelos), e obras que coleccionam anexins e expressões idiomáticas (como Feira de Anexins, de Francisco Manuel de Melo), havendo, das fontes destas últimas, interessantes anotações de E. Asensio, no prólogo da sua edição de Eufrósina, segundo o texto príncipe (Madrid, 1951). Mas o que nos importa aqui são os comentários de Habenicht acerca da pontuação de Heywood e a do impressor, apoiado em pesquisa sua e nas últimas investigações sobre o assunto.
Observa ele que, entre os manuscritos autógrafos de Heywood, que se conhecem (uma carta particular muito longa e o texto de uma das suas peças teatrais), e o texto impresso do A Dialogue of Proverbs, não há qualquer coincidência de sistemas de pontuação. Nos autógrafos, a pontuação é praticamente inexistente, enquanto é profusa naquele texto impresso – do que, em princípio, Habenicht conclui que a pontuação é editorial, e não do autor. Mas esta pontuação não só não será de Heywood (e o editor não apenas estava imprimindo a obra em vida deste, mas antes de ele se exilar de Inglaterra, por motivos religiosos, o que sucedeu em 1564, no ano do nascimento de Shakespeare), como não é uma pontuação gramatical e lógica, em sentido estrito, e sim um compromisso entre “os fins gramaticais e os fins retóricos” – o que é precisamente o que podemos observar nos textos camonianos, tal como os séculos XVI e XVII os publicaram. Apoiado em estudos sobre a pontuação de Thomas More, Shakespeare, Bem Jonson, e até de Milton (no manuscrito de Paradise Lost), Habenicht aponta as características retóricas da pontuação deles, e cita a afirmação de Jonson sobre não ter a pontuação outro papel senão “a mais clara elocução das coisas ditas”. Não é porém tudo ainda. Um estudo (1952) citado sobre a influência litúrgica na pontuação medieval mostra que, na poesia da Idade Média, a notação gráfica do canto gregoriano – que indicava as inflexões da voz – passou para a fixação escrita dos textos literários. Habenicht daí deduz que, no século XVI, se terá dado uma confusão gráfica entre a sinalização pontuadora dos textos antigos (ou de autores lidos neles) e a necessidade tipográfica de uma pontuação gramatical que, pouco a pouco, vai ganhando a partida. É, diríamos nós, a transformação da literatura escrita, para ser lida em voz alta e ouvida, em literatura impressa, para ser lida mentalmente, e que a difusão da tipografia propiciou, alterando radicalmente as exigências de clarificação gramatical, ortográfica, etc., que precisamente a partir dos meados do século XVI, de par com o triunfo literário da “língua vulgar”, se tornam uma preocupação geral. Por considerações desta ordem, Habenicht, na sua edição, ateve-se ao seguinte critério: “A pontuação do Diálogo de Heywood – diz ele –, quer difira do padrão geral da pontuação adentro do próprio texto, quer dos métodos modernos de pontuação, não é necessariamente incorrecta. Deve portanto ser mantida tal como está, e não ser “modernizada”. De resto, ainda há pouco foi feita a sensacional descoberta de que a estranha pontuação de Emily Dickinson (1830-1886), o grande “poeta” norte-americano, que tanto afligia os seus mais conscienciosos “editores” (é sabido que a sua obra ficou inédita, e que os raros poemas que publicou em vida foram, para tal, atrevidamente “revistos”), é uma pontuação retórica, baseada nos sinais gráficos para leitura em voz alta, aconselhados pelo manual de retórica adoptado na escola que ela frequentou (Cf. Edith Perry Stamm, “Poetry and Punctuation”, em Saturday Review, de 30-3-63). Quanto às preocupações gramaticais e ortográficas, no uso da nossa língua vulgar, é de notar que a Gramática de Fernão de Oliveira, a primeira, foi publicada em 1536, seguindo-se-lhe a de João de Barros, e nelas havia estudos ortográficos. Mas as “regras de ortografia” de Magalhães Gandavo são de 1574, e a “ortografia” de Nunes do Leão é de 1576. Oliveira e Barros, com as suas gramáticas, precedem de alguns anos o início desses estudos sistemáticos em França, por Louis Meigret, em opúsculos publicados em 1542-1551, e por Pelletier de Mans, que combate (1544) pela ortografia fonética. A todos precedera, porém, em 1492, António de Nebrija com a sua Gramatica Castellana, moldada aliás nas estruturas latinas, e não numa investigação das categorias castelhanas. Esta precedência do castelhano, ao contrário do que poderia depreender-se e tem sido castelhanamente depreendido, não significará que, na atenção culta ao vernáculo, a Espanha estava adiantada meio século sobre o resto da Europa, mas que a tal ponto a cultura humanística o não sobrelevara, que um estudioso da categoria de Nebrija era arrastado a atentar na língua nacional, antes do que acontecia no resto da Europa. A manutenção político-social de estruturas arcaizantes, em que a Espanha foi sempre tão constante, e as necessidades imperialísticas de Castela em relação aos outros “reinos” espanhóis (que o eram também linguísticos), terão contribuído decisivamente para uma precedência que é, afinal, uma manobra de retardamento político. Quanto a Portugal e Camões, convém sublinhar que as preocupações gramaticais e ortográficas têm um início sistemático quando Camões entra na adolescência (pelo que terá sofrido o impacto da primeira vaga), e um renovo à volta de 1575, quando Os Lusíadas já foram impressos e Camões está perto da morte. Mas é bom não esquecer que as “regras” de Gandavo (para cujo tratado do Brasil Camões escreveu um soneto e um “capítulo”) foram impressas pelo mesmo impressor da 1ª edição de Os Lusíadas (António Gonçalves), enquanto o livro de Nunes do Leão foi impresso por João de Barreira, impressor de Castanheda, João de Barros, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Heitor Pinto, António Galvão, António Tenreiro, André de Resende, e das comédias de Sá de Miranda. Seria interessante investigar em que medida as duas teorias ortográficas (concorrentes por volta de 1575) influenciaram os trabalhos dos dois impressores e penetraram nas obras dos autores impressos por eles. Acerca da chamada “questão da língua” em Portugal, é do maior interesse, pela informação e inteligente compendiação crítica, a introdução de Luciana Stegagno Picchio à sua edição do Diálogo em Louvor da nossa Linguagem, de João de Barros (Modena, 1959). É igualmente muito sugestivo, na sua relativa brevidade, o estudo de Menéndez Pidal, “El lenguaje del siglo XVI”, primeiro publicado em 1933, e coligido no volume La Lengua de Cristóbal Colón (Col. Austral, Buenos Aires, 1942). Pidal considera, no século XVI castelhano, quatro períodos: o de Nebrija, correspondente ao primeiro quartel do século; o de Garcilaso, de 1525 até cerca de 1555; o dos grandes místicos, daí a 1585; e o de Cervantes e Lope de Vega, de 1585 a 1617. No primeiro, dão-se, sob a égide da latinização, a fixação e a expansão do idioma; no segundo, ao andaluzismo em que se assentara o período anterior, segue-se um castelhanismo fortemente influenciado pela cultura italiana; no terceiro, a linguagem cortesã italianizada nacionaliza-se segundo um castelhanismo arcaizante; e no quarto e último período, a linguagem dos escritores torna-se literária, especificamente afectada pelas grandes individualidades estilísticas. Até certo ponto – e a discussão não cabe aqui – o esquema é válido para a literatura portuguesa quinhentista, e, do ponto de vista da periodologia que defendemos para ele, coloca acertadamente Cervantes e Lope de Vega como maneiristas, na sequência do movimento iniciado por Camões. Do mesmo modo, Pidal, para todos os efeitos, dá o “Século XVII” (ou seja, a Época Barroca) como iniciando-se no fim do primeiro quartel dessa centúria. Análise de Pidal mais subtil, e incidindo na evolução de Lope de Vega, é a contida no seu estudo “El lenguaje de Lope de Vega” (incluído no volume El Padre Las Casas y Vitoria, com otros temas de los Siglos XVI y XVII, Col. Austral, Madrid, 1958). Quanto à nossa teoria do Maneirismo literário, ver os estudos do autor citados em vários passos, e em especial “Maneirismo e Barroquismo na poesia portuguesa dos séculos XVI e XVII”.
Convém ainda citar, em torno da questão da pontuação, o que diz Juan del Encina, no capítulo IX e final (“De cómo se deven escrevir y leer las coplas”) da sua Arte de Poesía Castellana, primeiro impressa em Burgos, em 1505: “siempre entre verso e verso se ponga coma que son dos puntos uno sobre outro: e en fin de la copla hase de poner colon que es um punto solo”. Os dois pontos em fim de verso são muito usados nas impressões quinhentistas de Camões. Quanto à leitura dos versos, Encina insiste numa clara escansão, mas continua “hanse de leer de manera que entre pie e pie se passe un poquito sin cobrar aliento e entre verso e verso pasan un poquito mas: e entre copla e copla un poco mas para tomar aliento”. Para bem entender-se este passo, há que ter presente a nomenclatura de Encina, para quem o pé é a “unidade” métrica global que constitui um tipo de verso, e este último, coincidindo com o pé, é o que nós chamamos verso, ou, coincidindo com a noção de “versos”, a sequência poemática ou copla. Note-se que Encina escreve sem vírgulas, estando a pontuação também marcada com o “cólon”… Desnecessário será encarecer o valor que as teorias de Encina terão tido, pelo menos para a primeira metade do século XVI peninsular. O texto é aqui citado no Apêndice V, que ele constitui, do vol. I da Historia de las Ideas Estéticas en España, de Menéndez y Pelayo, ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santander, 1940. Concluamos, acentuando que os textos de Camões, no Cancioneiro de Luís Franco (como aliás sucede nos nossos manuscritos quinhentistas), não têm praticamente pontuação alguma.
21 Cite-se o exemplo da grande figura que foi Francisco Manuel de Melo, acerca do problema da pontuação. Cf. D. Francisco Manuel de Melo, As 2ªs Três Musas, sel. e pref. de A. C. de A. e Oliveira, Porto, 1945, e em especial o poema As Ânsias de Daliso, escrito sem pontuação.
22 Shakespeare, Hamlet, acto I, cena 5.