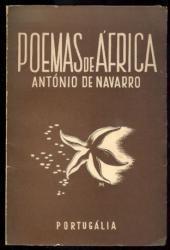Em maio de 1942 Jorge de Sena estréia-se na crítica literária impressa com a publicação de duas recensões no primeiro número da revista Aventura: "Poemas de África, de António de Navarro" e "Ambiente, de Jorge Barbosa". Assinalando estes 70 anos, aqui reproduzimos a primeira, que aborda autor que virá a ser retomado por Sena em 1957, desta feita a propósito de Poema do Mar.
ALGUMAS PALAVRAS
A crítica de poesia não pode, nem deve, ser feita encontrando-se o indivíduo crítico a uma certa distância, isto é, não pode ser feita apenas com o projectar sobre os poemas uma inteligência culta, que neles aponte o que for realização perfeita, e uma sensibilidade atenta, que determine, pelos seus próprios meios e para si própria (e é sempre para si própria ou determina mal), onde principia e acaba a vibração poética, quais as qualidades intrínsecas mais originais.
Numa das suas «Cartas a um Jovem Poeta», Rilke afirma a certa altura: V. diz que quem está perto de si ê como quem está longe: e isso é porque se abre um espaço à sua volta. Ora isto, que é uma terrível realidade no mundo do espírito, pode ser tomado num sentido que Rilke lhe não dava (ele! —que, logo adiante, fazia uma justiça bem dura às actividades críticas), e, então, verdadeiro crítico será aquele dos «próximos» que procura atravessar esse espaço e atingir o pensamento criador contido, e não aquele que, a distância, ilumina consigo e põe em evidência numa nitidez de claro e escuro.
Nada se consegue, aqui, sem um concentrar de todas as faculdades para o fim em vista, sem a aplicação total do instinto de conservação aos perigos da caminhada sensível (não ficando, pois, nenhuma parcela garantindo a integridade do amor próprio…), sem humildade para a apreensão sucessiva, uma humildade construída da mais pura ideia de camaradagem, ou, menos ainda, da ideia de uma intelectual coexistência humana.
«Um espaço à volta» e um caminho a percorrer… Ao ler isto apetecerá lembrar um poeta como João de Deus, todo simplicidade ética e simplicidade formal. Mas não será um extraordinário mistério a simplificação sincera do mundo? O que é sentir simples o mundo, mesmo que ele seja simples?
Nas condições estabelecidas, a exposição crítica, uma vez coordenada e escrita, só pode vir a ser expressão de duas reacções distintas: ou uma grande alegria por se ter encontrado, e realmente fulgurante, o núcleo de poesia intrínseca, ou uma espécie de lamentação por ele, afinal, ser muito mais pobre do que os indícios mentais, suspensos através do espaço e pelos quais nos guiámos.
E nem numa hipótese ou noutra haverá perigosos, porque injustos, malabarismos interpretativos, visto que se foi dando uma assimilação da obra realizada, uma espécie de sua consciencialização no corpo de uma consciência receptiva — e a alegria celebrada ou a lamentação permitida são quase da própria poesia que assim louva o esforço feito para a realizarem, ou lamenta a preguiça de plasticidade, e mais, a incompreensão formal com que a aprisionaram.
Aparecem-nos, então, dois casos extremos que determinam uma escala de valores (de origem não fixada por eles, note-se bem, pois que o nível dessa origem depende do nível inicial do crítico) e o estabelecimento consequente de juízos valorativos. O que só entendo possível, em absoluto, nos casos excepcionais correspondentes aos dois extremos e nos casos, por pedagogismo, dados como excepcionais. Sempre, porém, aqui e em todos os mais casos, o tempo, a repetição, o desassombro, as afinidades, serão factores de julgamentos vários.
Este especial pedagogismo — especial porque difere do usual de ideia feita — não é um defeito como poderá parecer à primeira vista e à primeira memória. Para lá do encanto que uma obra nos possa causar, podemos ver nela tantos pontos de partida (pontos de partida para o próprio poeta e pontos de partida só acessíveis aos poetas novos que vierem) que o nosso entusiasmo, o nosso desejo de mais alta grandeza, de mais, digamos, numerosa riqueza, tomará sobre si a indicação metodológica desses cais de embarque; e para lá da constatação de uma pobreza poética, para lá da análise amarga de uma insuficiência, o nosso entusiasmo defender-se-á e julgará defender o futuro da arte ao defender-se.
DA ORIGINALIDADE
Nunca a questão da originalidade do artista foi tão discutida como no nosso tempo. Essa questão, evidentemente, sempre existiu no espírito do artista verdadeiro, mesmo nas épocas em que a imitação fiel do modelo constituía prova de sensibilidade poética — era, então, da ductilidade do espírito o domínio do caso.
É do conhecimento geral o salto que, no princípio do nosso tempo, sobrepassou todas as regras. Talvez não seja ainda nítido ao conhecimento geral o que já acontece, hoje, a muitos: o aprisionamento medroso dentro da liberdade obtida.
Também da vontade de realizar, depois da purificação teórica do conceito de originalidade e da sua definição como riqueza humana, também daí é visível a decomposição por via da nostalgia de uma actividade imediata. E, ultimamente, a originalidade tornou-se colectiva, sinónimo do conjunto de regras e anseios que dirigem os poetas para um mesmo fim. Claro que este sacrifício do indivíduo a uma atitude, embora essa atitude seja necessária, seja justa, e venha da mais profunda comoção perante os desastres do mundo, só serve bem quem pouco tenha a sacrificar — exactamente como o que havia de esqueleto, na técnica, servia, e ainda serve, quem pouco tinha a dizer. E serve muito mal a regeneração deste mundo, porque os caminhos são feitos pelos homens, e descem, a pouco e pouco, se não arrastarmos connosco o mundo para cima.
A vida não pode confundir-se com felicidade, ou antes, imaginar uma organização que não seja, muito apenas, esforço de organização, luta de posição relativa do homem entre as coisas criadas.
E o poeta não pode esquecer-se de que está entre outros homens que não são poetas (que o erro da poesia em toda a parte é uma transposição do panteísmo) e não tem o direito de supor cumprida a sua função poética, desde que se abandonou, egoisticamente, ao prazer de criar. Toda a loucura criadora tem o dever de ser lúcida e de não negar nunca, mesmo no auge da solidão, o mistério da coexistência humana.
Um poeta não deixa de o ser, se só sabe dizer ainda uma vez o mesmo, ou até coisas novas, moldadas no dizer alheio. Mas o seu valor humano, que serve em casos de ignorância literária, é quase nulo, porque não traz nada àquele progresso formal que vai de acordo com a vida. O progresso no pensamento não é intrínseco — é de escolha, de ajustamento, de reajustamento, de purificação. E ao poeta pedem-se, portanto, mais uns passos, uns gestos, para o destino comum — ele se o for de verdade, pedi-los-á a si próprio.
A originalidade, porém, é relativa, sob certos aspectos. Quantas afinidades se desconhecem? Quantos ecos passam despercebidos?
Mas pode dar-se uma orquestração de ecos e essa orquestração ser nova e original, ser até a relação a estabelecer entre várias obras, o maravilhoso ovo de Colombo posto por uma galinha vulgar.
Ainda além de haver uma originalidade nacional e outra universal, há também uma originalidade de época, quase sempre de grupo, e uma originalidade individual.
Objectar-se-á: afinal a questão da originalidade é uma confusão de palavras, trata-se, apenas, do valor de um artista. Não é bem assim. Disse-se já a relação que havia entre o poeta e o destino comum; e, precisamente pelo que se disse, a questão existe sem ser confusão.
Um poeta pode ser original, sem que a sua obra traga coisa alguma ao progresso do pensamento, porque, quando se qualificou de formal esse progresso, definia-se, implicitamente, forma pelas suas duas faces, a exterior e a interior; que todas as caixas têm; quer dizer: a forma não é só a superfície exterior visível contendo uma matéria perceptível, é também a superfície interior de contacto directo com a verdade contida.
«POEMAS DE ÁFRICA» —ANTÓNIO DE NAVARRO
Livraria Portugália —1941
Impunham-se estas considerações sobre a originalidade, quando se vai falar de um poeta como António de Navarro que tanto do que vale o vale pela sua originalidade. Em que consiste ela?
Navarro é um poeta que nos dá o mundo, não pela compreensão poética da existência deste, mas pela compreensão de uma expressão poética interior determinada pela sua existência no mundo:
Serenas? Aonde está a serenidade
para quem absorve o movimento,
(imperceptível?), íntimo, em busca da verdade,
(da nossa verdade, ao menos!) da vibração do momento?!
Claro que isto não vai ser base para um juízo valorativo: sucede assim com ele, sucede doutro modo com outros; há poetas para os quais se altera a ordem dos mecanismos.
Tem seus perigos esta poesia. O poema 18, cheio de sugestão e de pequenas coisas parcelarmente poéticas, ilustra um seu limite — nele a meditação poética vai prestes a afogar a poesia; já o poema 12 ilustra o limite oposto — a fusão gradual dos mundos exterior e interior, ao longo do poema, até à puríssima síntese final:
Sei lá o que é o destino! …
— talvez a música dum cego
que vem tocar à minha porta.
Em todos os poemas, palavras se repetem em diferentes combinações. O poeta, porém, não anda à volta para interpretar-se; assiste, atentamente, ao rodar da imagem colocada, assim, num suporte giratório como os de certas montras. A imagem! — que é, quantas vezes, tal a casa do poeta
caiada de nuvens naturais como o acaso indique.
Disse-se atrás que há, hoje, um aprisionamento medroso dentro da liberdade obtida. Nada semelhante em Navarro. Os seus poemas, cujo pensamento se desenrola «viscoso como um ofídio ritual» e, como ofídio, em quedas súbitas do nó desenrolado, têm uma música de exactidão confiada; os versos caminham, desenvolvem-se, sem a mínima dúvida acerca do próprio direito à vida. De tão grande crença na maior das dúvidas sai sempre refeita a virgindade do mundo, e refeita por substituição e avanço:
… religião que adora
a virgindade de tudo, e aonde se desflora
para criar nova virgindade a flor cristalina do silêncio
que flori no cimo mais alto da tua haste!
A dedicatória do livro constitui um especial poema; a saudade, o amor pela esposa morta estão nela serenamente projectados sobre todas as coisas, e tudo surge iluminado por um clarão que reúne sem unificar. Esta reunião que não unifica, mas, todavia, nos dá o todo, é uma das características da poesia de Navarro e vem da sua forma de apreensão poética. Mas não estará aqui a aplicar-se a uma dor não sublimada? No poeta deve sempre sublimar-se aquilo que, nos outros homens, é apenas uma tentativa para esconjurar a solidão.
Nunca eu tomaria como ponto de partida uma dedicatória que merece o máximo respeito (e na qual se deve ver o que levou a publicar-se em livro este poeta que, até agora, desprezara tal comunicação mais poderosa e vasta), se não viesse, em abono destas conclusões, o desenvolvimento, de certa altura em diante, desviado, do poema 3. A dor brutal opõe-se, desmesuradamente, a qualquer sublimação, no espírito de um poeta que o é por uma representação quase nominalista da realidade.
Mas este livro não é só o livro de um admirável poeta. São «poemas de África». E a África, tem sido, entre nós, tratada poeticamente?
Salvo o caso de Cabo Verde, com características próprias, e de resto, na vida como na geografia, mais entre brasileiro e africano que africano, a África tem sido «utilizada» — ora como símbolo apropriado a devaneios de retórica, ora como cristalizador de meras emoções visuais geradas por ambição literária, ora como fundo a meditações poéticas, ora ainda como puro objecto de fascinação e êxtase.
Nestes poemas, a África é também fundo, na medida em que o fundo é horizonte ou leito, e é puro objecto, na medida em que a fascinação se torna angústia, — e é dada porém, em si própria e por si própria, através do reconcentrar de um poeta, um poeta que exclama:
Mundo, és todo da minha carne!
Silêncio, és todo da minha alma!!,
sem se esquecer que há um
mistério que procura qualquer vida
para viver e justificar-se.
António de Navarro ouve, a cada passo, as «lançadas do sol», que anda gravando as sombras: a do velho colono (que criou «quanto possível» à sua «imagem» o «amor pelo desconhecido»), a do homem que chega e não sabe («E precisas ser mais que tu», «para que a tua vida se não apague como um verme»), a das mães indígenas que também não sabem e passam ingénuas — e nunca, em poesia, hão-de passar mais puras. O poeta ouve, mas sabe bem que
Ali o sol grava apenas a nossa sombra mais fundo na matéria das coisas
e por isso ela parece que vive mais.
Ante uma natureza enorme que o homem branco ainda não afeiçoou aos seus olhos, ante a qual não pode, por pequenez e inferioridade expansiva, usar do seu erro humano de considerar animais domésticos todas as coisas vivas ou inanimadas — «paisagem sem alma, sem sentido humano» —, a pergunta definitiva surge:
O que será aqui uma agonia?
Coisa estranha a tudo, não?!
O último poema diz do seu regresso de África. Com aquela sinceridade e um pouco de preguiça confiada com que sempre prefere dizer «um não sei quê» a inventar uma imagem que aprisione e simplifique o que lhe parece indefinível, Navarro resume:
Trouxe, de resto, a mesma cegueira
que me abriu e há-de fechar os olhos.
É o homem sempre o mesmo, grandiosamente o mesmo sempre renovado. Mas o seu caso é mais estreito, e faz o seu valor de poeta:
Em África, deixei no invisível a síntese duma cruz
e não construí nem desvendei mais nada.
Esta cruz não vem a ser uma cruz qualquer, uma cruz alegórica, nem sequer só a maravilhosa cruz divina (repare-se no valor deste «só», dando à cruz dimensões de mundo e libertando-o da forma até conduzi-la ao superior sentido do poeta), esta cruz é a dos
pensamentos que parecem ter vindo de longe
desses «trânsfugas sinceros» dos pensamentos egocêntricos, desses
…pensamentos que fugiram duma cruz
e procuram afinal uma outra cruz
— e tudo assim afinal na vida!…
São tais pensamentos vagos, e não expressos mas rodando atentamente, que permitem descrever um batuque e interpretá-lo noutro plano simultâneo, e permitem escrever um poema tão puro como o 16, que bastava, por si só, para consagrar um poeta.
Citemo-lo:
Som monótono dentro do mormaço da tarde mansa
das dimbiras vindo não sei de que sanzala, lento, de longe latejante!…
Calor oleoso e frio, húmido — é já um suor de catinga,
enquanto aquela folha bole no vento que a agita distante…
Eu próprio sou distante, longínquo a mim mesmo.
Trago perdidos milhares de pensamentos a esmo,
sem poder dar-lhes forma, ou sequer os coligir,
como aquele bando de impalas que parece ter asas
e um sentido também ágil de pressentir
nos nervos elásticos, finos, eléctricos,
que desenham na tarde frisos escultóricos.
Pensamentos a esmo,
e a cabeça distante, sonâmbula,
sem lhes qtíérer a vida que lhes deu,
mergulhada num silêncio inexpressivo e envolvente
como um turbante, turbante apenas, de pano…
Paisagem sem alma, sem sentido humano,
eu não vos entendo, e embora tudo fale
é silenciosamente
sem distância, sem ideal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Som monótono no mormaço da tarde mansa
das dimbiras vindo de longe … de longe… de longe …
donde o «chicuembo» da noite súbito avança.
(1942)