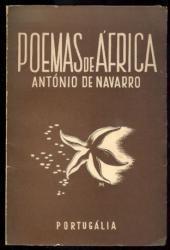NOTA A
Sem dúvida que não há, culturalmente, lugar mais comum e, ao mesmo tempo, mais deserto que o dizer-se da profunda ciência da humanidade, que Shakespeare patenteia. Essa profunda sabedoria do comportamento exterior e interior do homem, a acuidade com que Shakespeare evidencia o grau de lucidez, em cada situação, das suas personagens — são, de facto, muito naturais características do seu génio dramático. Toda uma crítica, julgando-se a julgada humanística, autorizando-se, sem o saber, na tradição de menosprezo pela totalidade da obra shakespeareana, tem posto em relevo essa «ciência». Não é paradoxal nem injusto dar, porém, a uma crítica assim orientada tal filiação. O menosprezo por Shakespeare como ele é vem de mais longe, e nasceu na própria Inglaterra, quando lá começou, em finais do século XVIII, a dealbar para o seu teatro um esboço de glória autêntica, que em escala menor, o lírico dos Sonetos e de Vénus e Adónis nunca deixara de ter. A cisão no entendimento latino ou latinizante de Shakespeare veio a consumar-se em França a partir da violenta querela dos «clássicos» e «românticos», dado que os primeiros, abrigados com o prestígio de Racine, Voltaire e a Enciclopédia chamavam bárbaro a Shakespeare, cujo teatro se não conformava com as normas ditas aristotélicas, e que os segundos defendiam, inspirados pelo Sturm und Drang e o romantismo alemão, a liberdade da composição, que permitisse representar mais directamente a «vida». Apagada a querela com a vitória do Hernâni e a extinção gradual dos últimos «clássicos» é hoje evidente que nem uns nem outros tinham em conta (ou apenas lhes vinha por acréscimo) a natureza poética, isabelina, desse teatro que discutiam, embora não possam acusar-se o génio de Victor Hugo e a clara visão de um Gauthier de defeituosa nesta compreensão que o romantismo intuitivamente tivera. E a crítica mais «científica», numa tradição racionalista alheia ao romantismo e à dialéctica originariamente romântica de Hegel, ao ir pondo em relevo o «humanismo» de Shakespeare, foi esquecendo ou ignorando os elementos líricos e épicos, e o puro jogo cénico (quer nas situações, quer na linguagem), que são uns e outro absolutamente típicos do teatro isabelino e jacobita de Kyd e Marlowe a Beaumont e Fletcher, e esquecendo ou ignorando, ainda mais imperdoavelmente, o próprio sentido evolutivo do teatro shakespeariano, das «crónicas» a The Tempest.
Ora, a verdade é que, com um critério psicologístico, que se extasie perante a complexidade de Ricardo II ou de Hamlet, ou perante o encanto espiritual de Pórcia, não é possível o êxtase perante a fantasia simbólica de The Tempest. Com um critério naturalístico de verosimilhança estrita das situações e dos caracteres não é possível aceitar Cymbeline e The Winter's Tale, lado a lado com Coriolanus e Julius Caesar. Com um critério de realismo da linguagem cénica, só é possível admirar, em Shakespeare, os intermédios de truões (e nem sequer o bobo do King Lear), soldados e populaça, visto que a linguagem de todas as outras figuras é redundantemente florida, ou, nos mais célebres solilóquios e nos mais belos diálogos, é poética e quase abstracta meditação das personagens sobre o seu próprio destino e a condição humana. Acentuemos que essa meditação ultrapassa, pois, o plano da introspecção, e impossibilita uma análise imediata, de que pudesse ter nascido qualquer teatro realista.
De todos estes critérios, uns por cima dos outros a pretender-se humanísticos, tem sofrido a apreciação da obra de Shakespeare. E, quer humanística, quer simbolizante, quer apenas gramaticante, a crítica tem, por sua vez, sobre esta confusão, assentado os seus edifícios, vendo só ou não procurando ver epocalmente o significado, como expressão do humano, de formas tidas por «gongóricas», ornamentais ou de simples regressão medievalista da alegoria.
Ora pode e deve falar-se da existência, através dos séculos da expressão literária, de tendências simbolistas, que não apenas do simbolismo como escola poética francesa… O conhecimento comparado das literaturas permite, a qualquer pessoa bem informada e bem intencionada, verificar a coexistência de poetas ou mesmo prosadores de expressão primacialmente simbólica, e de outros, cuja expressão é, digamos, por contraste, naturalista. Claro que a expressão simbólica pode não ser redundante, ou redundantíssima pode ser a expressão naturalista: ser prolixo não é bem o mesmo que ser «gongórico».
Não foi para se divertirem à custa do leitor que um Maurice Scève, um John Donne, um Nerval, um Rimbaud, um Proclo, um Píndaro, um Horácio, um Góngora, um Miguel Ângelo, um Hõlderlin, um Rilke, um Maiakowsky, um Lorca (para exemplificarmos com diversas épocas e línguas) usaram de uma linguagem transposta, misto de redundância retórica e de secura expressiva. Foram, ainda quando intelectualistas, homens mais sensíveis à complexidade e à riqueza da vida que no intelectual amesquinhamento dela; e a tal ponto assim o foram, que, levados por um discreto pudor do intelecto, atingiram por vezes um ascetismo e uma contenção expressivos, justamente mais raros nas efusões sentimentais ou nos raciocínios didácticos dos poetas sem imaginação universalizante. Notemos que, daqueles poetas, alguns, senão todos, implicam a existência do leitor culto, de gosto apurado e fina inteligência, capaz de apreciar a sobriedade que parece excesso, a sensibilidade sem cócegas na lamúria, o sereno e inteligente êxtase perante o universo e a condição humana, aquele e esta sentidos como um todo orgânico, harmonioso ou não, que seja a razão de ser da dignidade do homem. Nada disto — a imaginação simbólica e respectivas exigências — tem que ver, seja o que for, com a alegoria. A alegoria… esse recurso retórico, de que, por exemplo, o século XVIII e os primórdios ainda «clássicos» do século XIX, tão «iluminados», tão anti-medievais, tão racionais, usaram e abusaram, quer na literatura, quer nas artes plásticas, até aos derradeiros espasmos do mau gosto.
No caso de Shakespeare, que estamos tratando, pode e deve, além disso, falar-se de um crescente simbolismo adensando a linguagem, libertando o jogo cénico, esvaziando psicologicamente as personagens, e que, em The Tempest e em outras peças das últimas épocas, chega à terrível obscuridade (não apenas devida à distância, no tempo, de pretéritas formas linguísticas) de versos admiráveis pela beleza formal e rítmica, debitados por figuras desprovidas de qualquer realidade autêntica… E, no entanto, quão longe estamos da gratuitidade amável, aparentemente semelhante, das primeiras comédias!—porque tudo isso está servindo, agora, para cenicamente ser exposta uma visão poética do mundo, ou, também, o devaneio melancólico de um lúcido génio que essa visão entristeceu. É, portanto, pelo menos paradoxal condenar Calderon, cujo Segismundo é bem de carne e osso a comparar com Próspero, Hermione ou Marina, e condená-lo em nome, afinal, de um certo Hamlet e de um certo Otelo.
De resto, a complexidade das personagens renascentistas e post-renascentistas — qual é Camões — é uma complexidade menos psicológica do que de acuidade, humanisticamente natural, na percepção das virtualidades do homem e da sua situação em face das coisas e do destino. Além de que complexidade e subtileza não são bem o mesmo, e a subtileza tinha esplêndidos antecedentes literários medievais, senão na escolástica, pelo menos no provençalismo e no «dolce stil nuovo». Mas toda a Renascença, pela pena dos seus poetas e filósofos, se entrega, desde as especulações de Paracelso às canções camonianas, às consequências intelectuais e emocionais da posição humanística. Não admira, nem é regressivo, que essa acuidade haja culminado quer numa tipologia, de que é flagrante exemplo a obra de Ben Jonson, quer uma simbolização de que são exemplares, catolicamente um Calderon, e, até certo ponto com indiferença teatral em matéria de religião, um Shakespeare.
Sem se compreender primeiro a importância dessas formas que, em Shakespeare e Calderon, tão belamente esplendem, não é possível compreender o iluminismo de Lessing, a doutrinação de Herder, o idealismo do Sturm und Drang, o naturalismo simbólico dos românticos alemães, que todos meditaram, por oposição ao classicismo afrancesado, os problemas sugeridos pela riqueza «gongórica» de um Shakespeare. E, sem ter compreendido isto, não é possível interpretar no seu verdadeiro valor para a arte, o sentido da reacção humanística e materialista de Feuerbach.
É que, ainda à maneira dos enciclopedistas, continuam válidos um «bom senso» e uma «razão», afinal mais de Boileau que de Descartes.
NOTA B
O formalismo da poesia provençal, na literatura ibérica, alimenta os cantares de amor dos cancioneiros luso-galaicos; e ainda ecoa, aliás já complicado de petrarquismo, nas mais belas e sugestivas peças do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Camões teria, pois, duas revivescências culturalistas pelas quais aferir a mesma dialéctica, mas em grau diverso de desenvolvimento: a que repercute em quase todos os cantares da «medida velha», mesmo de um Sá de Miranda ou de um Bernardim Ribeiro, e o petrarquismo renascentista, que era da atmosfera de «modernidade» daquele tempo. Um certo conceptismo, um gosto da adjectivação contraditória, a substantivação dos qualificativos e a adjectivação dos substantivos: todo esse arsenal de graças da linguagem poética, que é uma elaboração linguística do intelectualismo sensual (ou sensualismo intelectualizado) da poesia provençal, encobre ou resulta, porém, dos credos socio-religiosos que propiciaram o provençalismo. E os untinómicos estados de alma, por um lado, como por outro o anseio de pureza, de transcendentalização do amor sensual, não são mais que o reflexo — ainda que por via apenas literária — da heresia albigense, no seio da qual se desenvolve a poesia do «trobar clus»: um maniqueismo cátaro.
Há que ter presente tudo isto para melhor se compreender como o chamado «petrarquismo» de Camões tinha muito antigos antepassados na literatura nacional em que se insere, exactamente como o «platonismo camoniano» é menos uma ascensão à Suma Beleza, que uma sublimação catara do desejo que tortura a «baixa e finita mente humana» e da donjuanesca insatisfação dos sentidos de um homem obsessivamente subjectivo, o que é, de resto, uma forma de interpretar, socio-literariamente, a precessão plotiniana em Camões.
De resto, uma certa sexualidade exacerbada, as reminiscências do «trobar clus», o gosto do esoterismo: eis flagrantes e bem concordantes elementos daquele aspecto de Camões, que, logo ao princípio (p. 17), defini: «orgulhosamente sibilino».
Já vimos, porém, como a dialéctica camoniana arrebata desesperadamente para um outro plano de vivência o mysterium magnum, que é a sua natureza em face de outra Natureza.
NOTA C
É evidente que, tal como vai dito, isto não é mais que uma «boutade». Mas a verdade é que o platonismo do trecho citado, embora se aproxime da terminologia e da imagística correntes em toda a poesia de que a ide Camões é um aspecto, é transfigurado pela introdução de um elemento estranho, que é a própria consciência dialéctica de Camões. Introdução que se opera pela forma como funcionam, no trecho, «as letras da memória» e o «translado» que o Poeta faz. Chamo temerosa profissão de fé ao confessado automatismo na transcrição de um pensamento cujo devir o possui.
De resto, no final de «Sobre os rios», está dramaticamente expresso o piedoso pânico da consciência camoniana, ciente do demoníaco exercício dialéctico que a sua poesia havia sido. «Havia sido», se admitirmos que as célebres redondilhas são uma espécie de testamento espiritual.
NOTA D
A «contradição épica», assim revelada no discurso do Velho do Restelo, permite analisar, de um outro ponto de vista temático, a criação camoniana. Como Dante na Divina Comédia é figurante e ao mesmo tempo testemunha, assim Camões, não sendo senão episodicamente personagem de Os Lusíadas, é, ao longo de todo o poema, a mesma testemunha (no sentido de quem assiste e de quem relata) que íntima e intelectualmente a si própria se conhece na obra lírica. Há, porém, entre os dois «testemunhos», uma diferença fundamental, que não só é efeito do espírito de diferentes épocas (e o sentido da post-renascença portuguesa não está assim tão longe de uma teologia dantesca). A «testemunha» camoniana vive, e, sendo de certo modo o único herói autêntico do seu poema épico, não é, por isso mesmo, um herói homérico. Enquanto o herói homérico actua segundo o prazer dos deuses e morre, a testemunha camoniana vive segundo «a mísera sorte, estranha condição», e não tem um Virgílio nem uma Beatriz que pela mão o conduzam. Mas, é curioso notar, os heróis de Os Lusíadas, propriamente as personagens do poema, também essas não vivem no mesmo plano épico, e actuam com determinação e livre arbítrio, auxiliados pelos deuses. O que contribui, preciosamente, para esclarecer a camoniana noção de livre arbítrio, auxiliados pelos deuses. Dir-se-ia que os deuses representam um papel de mediadores ou intercessores, mas, ao contrário dos santos, do céu para a terra.
NOTA E
A lição desta passagem da canção Manda-me Amor que cante docemente é a da edição de Soropita (1595). A lição do Visconde de Juromenha (1861) é muito próxima desta. Na edição de Domingos Fernandes (1616), a passagem aparece assim transcrita:
Depois de ter perdido o sentimento
D'humano um só desejo me ficava,
Em que toda a razão se convertia.
Mas não sei quem no peito m'afirmava
Que por tão alto e doce pensamento,
Com razão, a razão se me perdia.
Assi que quando mais perdida a via,
Na sua mesma perda se ganhava.
Em doce paz estava
Com seu contrário próprio em um sujeito.
O sentido fundamental, como a partir da outra versão foi estabelecido neste ensaio, mantém-se. E, em todas as variantes da edição de 1616, são bastante nítidas as correcções ao gosto seiscentista, no sentido de uma afinação linguística, substituída a fraseologia escolástica, tão às vezes característica de Camões, por equivalentes conceptistas, com os quais é parafraseada, literalmente, a imagística camoniana.
Quanto à edição de Lopes Vieira e J. M. Rodrigues, meritório fruto de melados amores pelo poeta, corrigindo-o e «embelezando-o», com manifesta incompreensão pela verdadeira qualidade da lírica camoniana, não vale a pena fazer-lhe referência.
NOTA F
De resto, acerca deste problema da religiosidade camoniana, não será de todo inútil meditar o trecho, a seguir transcrito, do eminente historiador Lucien Febvre, em que muito subtilmente está também posta a questão da liberdade da fantasia e da legitimidade dessa mesma liberdade, numa época que é ainda a de Camões, e para uma Europa mais complexa que o nosso Portugal do regresso das conquistas:
«Le christianisme, aujourd'hui, c'est une confession entre plusieurs autres: la plus importante de toutes à nos yeux d'Occidentaux — mais à nos yeux seulement. Nous le définissons volontiers comme un ensemble de dogmes et de croyances bien determinées, associées à des pratiques, à des rites dès longtemps définis. En quoi nous n'a-vons pas pleinement raison. Car, que nous le voulions ou non, le climat de nos sociétés occidentales est toujours, profondément, un climat chrétien. Autrefois, ou XVIème siècle, à plus fort raison: le christianisme, c'était l'air même qu'on respirait dans ce que nous nommons l'Europe et qui était la chrétienté. Cétait une athmosphère dans quoi l'homme vivait sa vie, toute sa vie — et non pas seulement sa vie intellectuelle, mais sa vie professionelle quel qu'en fut le cadre. Le tout, automatiquement en quelque sorte, fatalement, indépendamment de toute volonté express d'être croyant, d'être oatholique, d'acepter ou de pratiquer sa religion…
Car, aujourd'hui, on choisit. D'être chrétion ou non. Au XVIème siècle, point de choix. On était chrétien en fait. On pouvait vagabonder en pensée loin du Christ: jeux d'imagination, sans support vivant de réalité. Mais on ne pouvait même pas s'abstenir de pratique. Qu'on le voulut ou non, qu'on s'en rendit compte nettement ou non, on se trouvait plongé dès sa naissance dans un bain de christianisme, d'ou on ne s'évadait même pas à la mort: car cette mort était chrétienne nécessairement, socialement, de par les rites auxquels nul ne pouvait se soustraire même s'il s'était révolté devant la mort, même s'il avait raillé et fait de plaisantin à ses derniers moments. De la naissance à la mort, toute une chaíne de céremonies, de traditions, de coutumes, de pratiques se tendaient — qui toutes étant chrétiennes ou christianisées, liaient l'homme malgré lui, le tenaient oaptif même s'il se prétendait libre». «Le Problème de l'Incroyance au XVIème (La Religion de Rabelais)» — Lucien Febvre (pp. 362/3 l.a ed. 1942. N.° 53, de E. H.).
NOTA G
Não pode ser— lhe dize — limitada
A água do mar em tão pequeno vaso.
Sendo Camões, como parece ficar demonstrado, um peculiar poeta da própria poesia, da própria vida do poeta como tal, é interessante aproximar esta passagem de uma outra, de Hölderlin, por exemplo. Claro que a aproximação não visa a questionar sobre se Hölderlin teria lido Camões…, mas a fazer notar como a imagística se relaciona com a atitude perante a vida e sua expressão poética. Se há diferenças profundas entre ambos os poetas, diferenças de época, de cultura, de visão do mundo, um e outro se debruçaram sobre a noção de diálogo íntimo e perene, que é uma das constantes do pensamento dialéctico. Ao diálogo de Apolo e Diónisos, luminosa verdade da chamada antiguidade clássica depois dos estudos de Nietzsche, sucedeu, complicando-o, o diálogo — menos autêntico — do paganismo e do cristianismo. Camões e Hölderlin repercutiram esta dicotomia cultural, mais intensamente o poeta alemão. E é esclarecedor da posição camoniana observar que, enquanto para Hölderlin o vaso é demasiado frágil para conter a plenitude da revelação, em Camões o vaso é demasiado pequeno para conter a totalidade do discurso dialéctico, do interminável devir. A passagem de Hölderlin é a seguinte:
«Os deuses… parecem pouco atentos ao facto de vivermos, porque um frágil vaso nem sempre pode contê-los…. Só por momentos é que o homem suporta a divina plenitude. Um sonho desses momentos, eis portanto a vida.» No entanto, ressalvadas as diferenças de intenção (e a confusão subtil que Camões faz entre a vida e a canção que está escrevendo é um requinte que de oerto modo excede a metáfora «vaso» em Hölderlin) também Camões ecoa, e, como agora é óbvio, mais profundamente, esta noção da perenidade aparente de certos momentos significativos, que são afinal os momentos de consciencialização dialéctica.