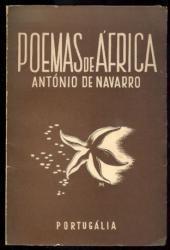Quando, em 1938, me estreei em letra de forma, sucedeu que o fiz com um poema e com um ensaio sobre poesia, que ambos ficaram esquecidos no modesto jornal universitário em que apareceram. Quando, em 1942, publiquei um primeiro livro de poemas, nesse mesmo ano apareci como conferencista (um estudo sobre Rimbaud). Assim, desde o início da minha carreira de escritor, o poeta e o crítico sempre foram aparecendo paralelamente; e esse padrão manteve-se até hoje. Usualmente, em Portugal, até tempos muito recentes, os estudos literários ou a actividade crítica dividiam-se em dois campos nitidamente separados, e que, na maior parte dos casos, mutuamente se ignoravam ou excluíam. De um lado, havia a erudição universitária, praticada por personalidades integradas no círculo extremamente exclusivo do ensino superior, e que, com raras excepções, ignorava a crítica corrente e ainda mais a literatura moderna ou contemporânea. Do outro lado, havia a crítica literária praticada por escritores ou simplesmente críticos, aos quais em geral faltava qualquer disciplina metodológica para além da própria inteligência ou sensibilidade, e que habitualmente concentravam as suas observações na literatura contemporânea, deixando a antiga à tradição erudita. Curiosamente, grande parte dos que praticavam a crítica corrente em jornais ou revistas literárias eram eles mesmos escritores, não importa se maiores ou menores. Mas, paradoxalmente, a atitude geral que assumiam em relação a um escritor que praticasse a crítica era de extrema desconfiança, ora em direcção à actividade crítica do escritor porque o era, ora em direcção à sua obra de criação, por praticar a crítica. Em ambos os casos, tal atitude reflectia um complexo de causas, extremamente interessante. Primeiro que tudo, dado que, culturalmente, eram «amadores» (ainda que às vezes no melhor sentido da palavra), ignoravam ou não lhes interessava tomar conhecimento de que, em todos os tempos e lugares, grandes escritores haviam sido grandes ou importantes críticos (em textos de crítica, ou em numerosos passos das suas obras de criação). Depois, havia um outro problema, de que a crítica da literatura portuguesa tem largamente sofrido no último século e meio: a esquizofrénica coexistência de um duplo padrão de juízo, resultante do complexo de inferioridade em relação às chamadas «grandes literaturas» ocidentais, complexo que, por sua vez, advinha da noção de «decadência» de Portugal, que se estabelecera na intelectualidade portuguesa. Por esse duplo padrão, a literatura nacional aparecia como subordinada e dependente das outras, e os critérios de grandeza que se aceitavam vindos delas não podiam ser aplicados aos escritores portugueses, para os quais teria de haver certa benevolência condescendente (ou o contrário), que os julgava por padrões de valor «local». Além disto, e em conexão com aquela ignorância real ou deliberada das qualidades críticas de muito grande escritor de qualquer época ou lugar, existia e ainda existe o preconceito romântico (oriundo de um (Romantismo mal conhecido e mal estudado) de que o génio e a originalidade são virtudes espontâneas, meramente inspiradas, e incompatíveis com uma inteligência lúcida e uma cultura profunda: assim, se um escritor aparecia como crítico, era para desconfiar-se da sua grandeza ou qualidade, ou vice-versa. Claro que o mais curioso deste aspecto consistia em que, ao contrário do que lendariamente se afirmava do carácter «lírico» e «sonhador» da literatura portuguesa, todos os grandes escritores portu-gueses, passados ou presentes, sempre haviam primado por uma aguda inteligência, uma grande lucidez acerca de si mesmos e da sua arte, ou mesmo assumido explicitamente atitudes ideológicas ou críticas. Por isso mesmo, é interessante notar como, na literatura moderna, a crítica portuguesa, ao enfrentar-se com um poeta tão lúcido como Fernando Pessoa, nem mesmo na maior admiração ocultou as suas reservas, considerando que ele usava o seu génio para mistificar as pessoas (isto é, para iludir os críticos que, eles sim, eram quem devia dizer quem ele era — coisa que Fernando Pessoa largamente cuidara de fazer ele mesmo).
Pessoalmente falando, e se me coloco dentro deste quadro das últimas décadas, cumpre-me acentuar que, ao contrário de muitos outros, a minha actividade crítica, no sentido de contributo regular a jornais e revistas, aplicado a julgar os meus contemporâneos ou outros, foi, ao longo dos anos, bastante reduzida: só uma vez fui crítico literário «regular» num periódico, e por duas vezes crítico teatral em dois outros, em nenhum dos casos por muito tempo, nem cobrindo tudo o que se fazia ou não fazia. Durante longos anos, isso sim, produzi centenas de artigos genéricos sobre questões literárias, ou prefácios a diversas obras ou a antologias por mim preparadas, a maioria dos quais não estão sequer recolhidos em volume. Mas esse tipo de actividade (e a análise das suas consequências é ilustradora da vida literária portuguesa), ainda que genérico em muitos casos, porque atacava genericamente aqueles vícios ou limitações acima descritos, não menos me incompatibilizou com meio-mundo. Isto não só porque, quando denunciava uma situação, determinadas pessoas logo supunham que eu as tinha em mente, mas porque, como eu insistia em colocar-me acima e fora da vida literária quotidiana, não me envolvendo em nível pessoal com ninguém (é interessante acentuar que, tendo-me sido criada uma reputação de autor polémico eu, em quase quarenta anos de vida literária, não sustentei nunca uma polémica com ninguém, diversamente do que tanto acontece na vida literária portuguesa), era como se eu me segregasse do rebanho — o que, evidentemente, nenhum rebanho perdoa. Acrescente-se a este aspecto um outro. Por temperamento e várias outras circunstâncias que não vêm ao caso, eu nunca fiz parte de qualquer agrupamento literário ou político, ou ambas as coisas, embora sempre tivesse tido amigos em todos eles (com excepção, cuidadosamente praticada da minha parte, dos fascistas declarados e comprometidos).
Desde muito cedo, alinhei na oposição ao regime salazarista, e em várias ocasiões em que havia limitada liberdade de imprensa, fiz declarações a esse respeito. E, durante muitos anos, até ao meu exílio em 1959, estive envolvido mais ou menos clandestinamente em actividades políticas, nas quais nunca recusei contactos com nenhum agrupamento oposicionista, e até incentivei e propiciei diálogos que se afiguravam impossíveis, quando o problema principal era estabelecer frentes comuns. Mas isto era menos conhecido nos meios literários; e de qualquer modo, ao tempo em que as polémicas se concentravam em torno do «engagement» da literatura (que sempre considerei inevitável ou necessário, mas não obrigatoriamente em termos de regras partidárias que acho apenas legítimas para quem queira ou tenha de obedecer a elas), e as aclamações ou supressões críticas eram feitas em termos de estritos partidarismos ou grupos, como ainda continuam a ser feitas, a minha posição de «independência» não me favorecia, quer como escritor, quer como crítico. Quando em 1959 já no Brasil (aonde tive aberta actividade política contra o regime salazarista, e de onde passei aos Estados Unidos em 1965) ingressei no ensino universitário de Letras, e em Letras obtive os graus de Doutor nelas e de Livre-Docente de Literatura Portuguesa, a situação complicou-se grandemente, e creio algo iluminante analisá-la um pouco. Eu entrara «por cima» no mundo dos catedráticos. Mas, no que a Letras se refere, não passara pelas Faculdades lusitanas. E estas (numa secreta fraternidade que, com todos os ódios e divisões políticas, irmana as gamas completas desde uma extrema à outra) nunca em verdade aceitaram que se ensine Letras, ou se escreva delas em nível universitário, sem que por essas Faculdades se tenha passado. Além do mais, como é sabido, o tradicional exclusivismo do universitarismo português nunca realmente reconheceu de bom grado qualquer título universitário que não os concedidos em Portugal, e longamente forçou os doutores por outras universidades do grande mundo a repetir os seus exames e as suas defesas de tese. Por outro lado, dentro da vasta «internacional» que a gente universitária constitui em toda a parte, persistiu por muito tempo, no que a Portugal e ao Brasil se refere, e a vários lusófilos na Europa e nos Estados Unidos, uma outra «internacional» mais restrita, com a sua rede de mútuos favores em que o governo português desempenhava um papel preponderante. Assim, no meu caso pessoal (e a situação subsiste, já que eu nada fiz para ser figura importante da Revolução depois do 25 de Abril de 1974), era facílimo e rendoso atacar-me: eu não tinha influência nenhuma nas universidades portuguesas (que continuo a não ter e não busquei nunca ter), e a coligação de interesses governamentais e universitários só ganhava com isso, do mesmo passo que desacreditava ou prejudicava um «independente» que não era membro da família, e viera da vida literária para a «internacional» mais vasta. Nos meus tempos de Brasil e já de Estados Unidos, tal coligação não hesitou mesmo em aliar-se com brasileiros notoriamente conhecidos como inimigos declarados da cultura e da literatura portuguesas. Basta lembrar-se a execução capital que, no Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, realizado na Universidade de Harvard, estava organizada pelas oficiais delegações dos dois países ditos irmãos, e que era destinada a mim, ao sociólogo brasileiro Florestan Fernandes e ao historiador inglês Charles Boxer, e que fracassou redondamente numa vergonha inominável que matou tais colóquios.
Não conto tudo isto senão como exemplo do que pode acontecer, na cultura portuguesa, a quem não tenha protecções oficiais, grupais ou clandestinas, e acumule a condição de poeta, de crítico, e de universitário de Letras (no estrangeiro). Mas há outros curiosos aspectos a apontar. Quando nos primeiros anos 40, eu e outros amigos meus dos Cadernos de Poesia éramos tidos como grandes conhecedores da poesia inglesa (que não éramos tão grandes na verdade, nesse tempo), apenas por se saber que líamos o inglês que praticamente ninguém sabia então ler, a crítica disse que, provavelmente, nós, na poesia que fazíamos, traduzíamos do inglês impunemente os nossos poemas. Data desse tempo o dizer-se, no meu caso, e ainda ocasionalmente se refere, que o meu mestre era T. S. Eliot (talvez porque era então o nome moderno mais mencionado e conhecido daquela língua). Quando dei começo a diversos estudos sobre Fernando Pessoa, há trinta e três anos, passou a dizer-se também que a presença de Pessoa era evidente na minha poesia. Quando passou a ser notório, por estudos publicados, que eu me ocupava de Camões, imediatamente se observou como a minha poesia era camoniana… O interessante nestas observações da crítica portuguesa não é tanto o projectarem o crítico sobre o poeta (o que é bem fácil de fazer), mas sim o facto de haver dezenas de poetas bons ou maus, que reflectem com a maior evidência a presença de outros nas suas obras, sem que a crítica o note e o declare… É que a crítica portuguesa, quando não está apenas interessada em promover os seus amigos, está só ocupada em diminuir os desamparados da sorte, como eu. E perdoar-me-ão que mencione discretamente o facto de tantos me imitarem a mim, nas últimas décadas, com o mais complacente silêncio da crítica. Se disse estas coisas todas (e poderia dizer muito mais que aqui não cabe) foi apenas para exemplificar, no caso português, a minha pessoal experiência de quase quarenta anos de escritor e crítico, como disse — e, ao que se vê, fi-lo objectivamente, sem azedume algum, numa exposição meramente factual. Ao fim destes anos todos de suportar-se o chamado «veneno lusitano», a gente fica um pouco como o rei Mitrídates, e consola-se na ideia de um Portugal ideal, em que, desde os tempos antigos, quem é roído em vida está em excelente companhia.
Posto isto, que os estrangeiros de boa fé devem ter em conta quando se dedicam a estudos portugueses, que ninguém lhes agradecerá se eles não tiverem favores para dar em troca, visto que somos uma raça rapace e insaciável, cumpre-nos tratar da questão da coexistência do autor e do crítico na mesma pessoa, em abstracto.
É velha a polémica sobre se o escritor, ou em particular o poeta, tem mais capacidades críticas que o simples crítico. E trata-se sem dúvida de um falso problema. Se por um lado, como começámos por apontar, grandes escritores, ainda que acidentalmente, se manifestaram como grandes críticos, a regra não é inteiramente geral: e não é necessário e suficiente ser-se um escritor de qualidade para ser-se um crítico de mérito. Reciprocamente, grandes críticos tem havido — desde os que se dedicam a uma crítica jornalística aos que se dedicam a uma altamente técnica ou erudita — que não foram escritores no sentido «criador» da palavra, ainda que não seja descabido acentuar que toda a crítica de categoria, por mais estritamente técnica ou erudita que seja, não dispensa qualidades de imaginação criadora ou de penetração específica, normalmente associadas com a literatura de criação. Grandes críticos do nosso tempo, como Auerbach, Curtius, Spitzer, etc. são disso excelente exemplo. Mas o ponto que importa acentuar — e por isso também o problema é falso — consiste em que o escritor, se é capaz de observar ou discutir, desapegadamente do seu egotismo de criador, o acto da criação, em si mesmo ou nos outros, está em condições de falar de um processo que ele conhece ou experimenta «desde dentro». É corrente a acusação de que, mesmo que assim seja, o escritor doublé de crítico está no fundo a falar pro domo sua, explicando-se ou justificando-se a si mesmo. Mas a psicologia contemporânea, a sociologia da literatura, etc., ensinam-nos que, disso, ninguém está isento (a única diferença em relação ao crítico que não é escritor é que, se não tem casa a defender, tem uma ideologia em que se integra e que propõe, ainda que disso não possua plena consciência, tal como pode acontecer a qualquer criador). Todavia, e ainda que a sobreposição ou conflito de interesses entre a criação e a crítica existam no escritor-crítico, a objectividade da sua crítica deve medir-se pelo rigor dos seus métodos de análise, o que não implica apenas o exercício racional de uma clara inteligência, mas a efectiva aplicação de métodos críticos, próprios ou alheios, tal como hoje se exige do crítico tout-court. Assim sendo, não se vê que incompatibilidade possa existir entre ser-se escritor e crítico, como ainda se pensa que existe. Por certo que o escritor que se dá a si mesmo uma larga informação e disciplina crítica (exigidas por uma actividade profissional) tenderá a ser muito lúcido em relação à sua criação. Mas nunca absolutamente. O acto de escrever ou de criar pelo uso da linguagem é motivado por causas e impulsos mais profundos que quanta cultura exista no espírito do criador. Por certo que o resultado final reflectirá, de certa maneira, essa cultura: e não tanto porque o escrever foi totalmente consciente e refinadamente calculado, mas porque é inevitável que, numa pessoa culta, não exista uma relação dialéctica entre a sua cultura e aqueles impulsos mais profundos (tal como, afinal, no escritor menos culto, uma análoga dialéctica, a nível menos apurado, existirá entre aqueles impulsos e tudo quanto psico-socialmente o condiciona e à sua expressão). A cultura não é um acrescento ornamental, a não ser para quem a não digeriu ou a não possui realmente: é algo que se torna parte de nós mesmos. E como tal é que aparece na criação de um autor culto, impulsionada por aquelas mesmas forças que ascendem do mais íntimo de nós e se coagulam em expressão verbal. Note-se, porém, e em geral se não sublinha ou repara, que muitos escritores, em particular poetas, se não são brilhantes críticos no sentido de exercer a crítica, são-no na realização final das suas obras. Como é sabido, há poetas que escrevem facilmente, numa explosão que quase não é depois revista, e outros que escrevem laboriosamente, acumulando revisão após revisão até atingirem, ao que habitualmente se diz, aquilo que queriam dizer. Todos sabemos hoje que esse «querer dizer», e a poesia moderna tornou-o bem patente, é menos o que se «quer dizer» que aquilo que as combinações e transformações linguísticas, quer ao nível de uma semiconsciência que as obtém, quer ao de uma pesquisa feita sobre a palavra escrita que se vai organizando, atingem. Num caso ou noutro, o autor exerceu uma actividade criadora que é também crítica, no sentido de que por adição, supressão modificação, etc. buscou e terá encontrado uma expressão que considera final (o que não quer dizer que, mais tarde, noutra perspectiva, não volte a revê-la e alterá-la). Poderia assim dizer-se que mesmo o menos intelectual dos poetas, na medida em que é um criador de algo diverso, é um crítico de si mesmo, ainda que, muitas vezes, seja totalmente incapaz de analisar os seus próprios processos ou os alheios, por forma expositiva (quer por escrito, quer verbalmente). Reconhecer-se isto é notar como muitos autores ascendem além de um mero «profissionalismo» de artesania, para atingirem um mais elevado nível criador, mesmo quando são totalmente incapazes de articular explicações claras do que e como fazem. Ainda quando se admita e reconheça o automatismo surrealista que, de um modo ou de outro, tanta importância veio a ter na poesia dos últimos cinquenta anos, não menos, por paradoxal que pareça, tal automatismo comprova a existência desse elemento crítico na criação. Porque, na tão proclamada libertação da imaginação verbal, o que é libertado são os tradicionais nexos lógicos ou sintagmáticos, em favor de transformações insólitas e inesperadas que, todavia, resultam de uma desordem que se organizou à base de todo um arsenal linguístico existente na mente do poeta. E esta, ao proceder «automaticamente», escolheu ou aceitou (o que vem a dar no mesmo) as combinações que, por saltos de analogias suprimidas, vieram a formar-se. De propósito, deixámos fora destas considerações a questão dos juízos de valor, pelos quais se avalia da importância ou da qualidade de uma obra. A crítica, para exercer-se, não é necessariamente judicativa, e contemporaneamente faz cada vez mais questão de não parecer que o é. Mas não nos iludamos a este respeito. O simples facto de aceitar-se ou seleccionar-se uma obra para estudo implica um juízo de valor, ainda que — e é um dos maiores perigos da crítica contemporânea — esse juízo não implique mais do que haver o crítico sentido que a obra se prestava à aplicação efectiva dos seus métodos. Uma axiologia literária (ou, mais genericamente, estética) exige, hoj
e, toda uma revisão dos padrões tradicionais de juízo, ou uma objectivação material dos elementos chamados a justificar qualquer juízo. Por isso mesmo, nos encontramos num período de transição. Após a derrocada de séculos de padrões herdados do classissismo greco-latino (ou do que os comentadores renascentistas, maneiristas, barrocos e neoclássicos fizeram dele), a crítica necessariamente passaria (quando não meramente erudita) ao juízo impressionista, baseado na inteligência, na sensibilidade e na cultura do crítico, para depois tentar escapar-se do impasse pelo desenvolvimento de métodos analíticos que, de certo modo, eliminassem o factor excessivamente ou exclusivamente subjectivo em que o impressionismo se baseava. Se uma tal crítica nos pode ajudar a aprofundar e objectivar o nosso conhecimento dos ingredientes que constituem a obra literária, e que permitem entendê-la como um «sistema» em si mesmo (ainda que inserido noutros sistemas ou estruturas mais amplas), não menos o problema do juízo valorativo se mantém. E é por isso que, dos mais variados pontos de vista, desde o meramente psicológico ao sociológico no que ao leitor se refere, tanto se fala hoje da relevância de uma obra. É como se, na derrocada de todos os valores tradicionais de séculos de literatura (aos quais algumas escolas críticas têm tentado voltar, com uma revalorização das categorias retóricas de tradição greco-latina), ou na confusão contraditória de diversos métodos críticos que em última análise dependem de variados pressupostos filosóficos, ou na pressão para que as obras sejam concebidas e julgadas em função da sua efectividade imediata na educação das chamadas «massas», ou na não menor pressão de a obra literária se transformar economicamente num produto de consumo (respondendo aos apetites ou modas surgidas entre os consumidores ou neles suscitados pela publicidade de qualquer espécie) é como se, dizia eu, nada restasse senão a relevância — quer dela se trate segundo padrões impostos, de cima, por uma organização partidária, quer de produtos determinados, pelo que se diria pesquisas de mercado. Enquanto isto sucede, a crítica abstém-se aparentemente de juízos de valor, quer analisando as obras como estruturas em si mesmas (que elas na verdade são, mas não só), quer relacionando essas estruturas com uma ideologia capitalista ou marxista, tacitamente aceite (quando não explicitamente adaptada às circunstâncias de uma nova visão de origem antropológica). Não há dúvida de que, de uma maneira ou de outra, é evidente o esforço para sair-se, através da formação de uma possível ciência literária — envolvendo teoria da criação e da crítica — daquele impasse em que nos encontramos, não tanto desde o Romantismo (que pode ser visto como apenas o triunfo momentâneo de uma das correntes do Renascimento, aquela que tentou defender e impor a adaptação de tradições medievais ao nacionalismo literário), como desde a viragem do século XIX, quando se desenham as transformações culturais que explodem nos movimentos de vanguarda do nosso século, por muito que, em várias culturas, estes tenham incluído libertações expressivas que haviam sido frustradas pelas circunstâncias económico-sociais ou políticas, em movimentos anteriores. Provavelmente, ninguém mais do que, nas últimas décadas, os escritores que são críticos ou vice-versa têm sentido a necessidade de uma disciplina literária, na criação e na crítica. O mais recente experimentalismo (continuando ou repetindo aliás, ou amplificando, muitas das experiências das últimas décadas) chegou, na criação literária, à incomunicabilidade total, não tanto por criar metalinguagens que podem ser tremendamente sugestivas e comunicantes, mas sobretudo porque, no chamado Ocidente ou áreas dele dependentes, se deixou de acreditar na realidade enquanto tal, substituindo-a pelo objecto da criação. Isto não é condenar-se nenhuma forma de experimentalismo, mas é por certo denunciar que a realidade existe, embora possamos não saber ao certo que seja, e que as palavras existem para ajudar-nos a fixá-la, pela comunicação, num momento do espaço e do tempo. Isto não é também aceitar que, para tal, devamos volver às estruturas «realistas» da tradição burguesa, aceitando que a apropriação delas pelas massas é um caminho de libertação delas. Só o poderá ser se a liberdade de imaginar-se a realidade (sem a qual nenhum «realismo» existe) não fôr limitada por padrões tradicionais da arte narrativa. Mais do que nunca, hoje, a criação literária, ou poética no mais amplo sentido, tem de ser uma actividade crítica, em que o poeta assume as suas responsabilidades de não só testemunhar do seu tempo, mas dar expressão à realidade dele. Se, além desta atitude crítica em relação à própria obra, o poeta é também um crítico por si mesmo, aplicado em analisar e estudar as obras alheias, tanto melhor, já que funde uma experiência pessoal com a metodologia crítica. E, quer os poetas que não são especificamente autores de obras de criação, quer o público em geral que por tais questões se interessa, só terão a ganhar com um exemplo que tão grandes nomes como um Horácio ou um Dante nos legaram.
Santa Bárbara, Califórnia, Março de 1976.